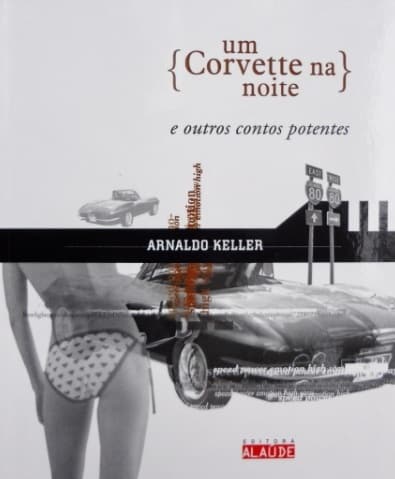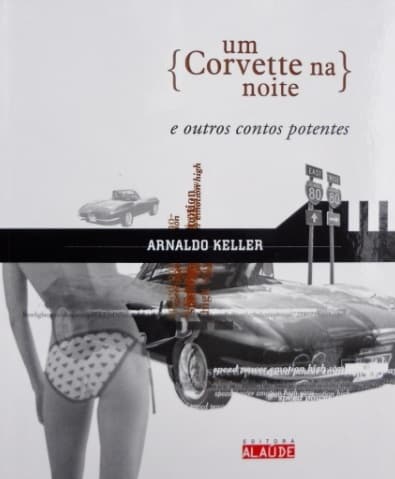Caro leitor ou leitora,
Resolvemos lhe trazer o livro do Arnaldo Keller “Um Corvette na noite e outros contos potentes”. Foi publicado pela Editora Alaúde em 2009 e esgotou nas livrarias. O Arnaldo, claro, autorizou o Ae a publicá-lo.
São seis capítulos e iremos publicando-o aos poucos, não teria sentido um livro numa página de internet.
Os livro não é autobiografia, mas contos, ficção, mas dessas ficções que se confundem com a vida real, você vai sentir isso em cada linha.
Boa leitura!
Bob Sharp
Editor-chefe
_______________________________________________________
UM CORVETTE NA NOITE E OUTROS CONTOS POTENTES
Por Arnaldo Keller
Capítulo 1 – Um Ferrari Maranello cruzando a Patagônia
Saindo de Bahia Blanca — cidade seiscentos quilômetros ao sul de Buenos Aires —, eu seguia noite adentro para San Martin de Los Andes, mil e duzentos quilômetros adiante, ainda mais ao sul, na cordilheira. Havia duas semanas que minha mulher e nossas filhas estavam esquiando no Cerro Chapelco. Gostamos demais disso. Alugamos um chalé quentinho em meio a um bosque nevado. Enquanto dirigia, imaginava que essas horas elas provavelmente aqueciam-se ao redor da lareira. Disse “provavelmente” porque a gente nunca sabe o que as mulheres resolvem fazer. Imaginei a sala da lareira, imaginei o quarto, a cama… Eu estava com saudades da família, e uma especial da minha mulher.
No início, peguei chuva, torrencial. Pista simples, porém, totalmente vazia. Por várias vezes meu Ferrari Maranello aquaplanara. Também, mandando a bota a 170 km/h não há pneu que se livre de tanta água. Trrisst… trrisssst…, uma boiadinha. “Ai meu Deus! Agora vai!”, pensava, enquanto acalmava o frio na barriga e suavemente aliviava o pé do acelerador. Mas logo abria um asfalto com melhor drenagem, o Ferrari voltava a se encontrar com o chão e eu voltava pros meus 170. E assim segui pela primeira hora de estrada, maneirando…
Subitamente o aguaceiro parou e entrei num asfalto secando, soltando um vapor branco que subia, sumindo na noite escura. Ar parado, nenhum vento. Era a deixa para fazer aqueles doze cilindros cantarem. Reduzi direto de 6a para 4a marcha. Câmbio manual, alavanca na grelha do console, pedal de embreagem; nada de intervenções do computador na nossa relação. Assim o carro anda do meu jeito. Acelerei forte em busca dos sedentos 515 cv. Lembrei que estes Pampas, então encobertos pelo manto da noite, têm excelentes pastagens — sua fartura nutritiva cria um dos melhores e mais resistentes cavalos, o Crioulo. Continuo acelerando, aumentando a tropa em trabalho. O ponteiro do velocímetro responde de forma rápida e constante. Minha tropa mecânica estava na ponta dos cascos, tinindo. O giro subiu, indo pra 6.000 rpm, fazendo o motor urrar feliz com a soltada de rédeas. O Ferrari ainda deu umas ciscadinhas com a traseira, sobrando potência. Com leves toques na direção firme e rápida mantive-o alinhado, e fomos nos despedindo da água que ainda restava no asfalto. Estiquei a 4a até 8.000. “Agora grita, meu docinho! Respire forte e grite, que a coisa tá pra nós!” — falei-lhe, acariciando o túnel do cardã. Lembrei que o cardã gira na velocidade do motor. Motor na frente, caixa de câmbio atrás, entre as semi-árvores traseiras — um dos segredos da ótima distribuição de peso deste carro. Pé no talo em 4ª, meti 5ª. O giro caiu pouco, as marchas já entravam nervosas. Nossa! Não há nada igual ao urro de um V-12! O som é tamanho, e tão afinado, que a sensação é de estarmos em meio a uma orquestra num auge alucinado. Provoca transe, tesão puro e dominante. A estrada afunila, até tornar-se uma tênue linha, um fio de navalha onde nos equilibramos. O ponteiro vai acusando 220, 240, 260, 280 km/h. Vi olhos brilhantes ao lado, eram os tais Crioulos que, assustados, fugiam, sumindo na escuridão. Puxei a 6a e tirei o pé, deixando baixar para 240, velocidade de cruzeiro. Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar carregado de relva fresca e estabilizei a 240, satisfeito. Comi um chocolate. Dizem que chocolate aplaca o tesão.
E assim passaram-se umas duas horas. Longa e infindável reta que, pouco a pouco, era engolida pela frentona voraz do Maranello. Vez ou outra uma curva solitária, de poucos graus. Depois dela, outra tremenda reta. De soslaio, vi que a vegetação mudava e ia tornando-se agreste, com tufos de capim, terra arenosa e pedras — estava entrando na Patagônia. Imaginei o Fangio. Sempre que passo por estas bandas me parece que tudo pertence a ele, que tudo foi conquistado por ele. Ele e seu companheiro, o mecânico, largando o cacete no carretera Chevrolet 39. Época em que esta estrada aqui era só um rasgo feito por lâmina de trator. O poeirão tussígeno entrando por todos os lados, vãos de portas, assoalho, misturado com cheiro forte de gasolina e óleo. Ferramentas, pneus e peças de reposição, amontoados, soltos, jogados no espaço antes ocupado pelo banco traseiro; latas batendo, escapes diretos cuspindo fagulhas. Pedregulhos fazendo o carro escorregar, facões cavados desviando subitamente a rota, mata-burros pondo o carretera aos saltos. “He he!” — pensei, sorrindo — “Na certa aqueles escapes botavam fogo na capinzama seca da beira da estrada; opa se botavam. Por onde passavam zoavam como máquinas dos infernos e iam incendiando o caminho feito um rastilho de pólvora. Esses sujeitos sim, eram doidos, esses sim… A morte sussurrava em seus ouvidos, seus lábios roçando-os, e eles nem aí.”. Mas o céu da Patagônia é tão grande, que logo, por mais estrepitosos que sejam, os sons estranhos são abafados. Em breve, tudo volta à calma, sobrando o constante zunir do vento cortado pelas ramagens secas. O gado, os carneiros, os cavalos, afrouxam as orelhas e baixam a cabeça, voltando a pastar, escutando as próprias bocadas e respiração. Os pássaros eriçam as penas e se ajeitam nos ninhos. Não há mais rebeldia. Os rebeldes vieram e foram-se. Para viver na Patagônia há que se conformar com a própria pequenez diante da vastidão.
Tudo reto e plano à minha frente. A claridade dos faróis, refletida na bruma da noite, formava uma espécie de túnel quente e úmido em que infinitamente eu me embutia. Agora, enfim com o Maranello saciado de ar, gasolina, e vento no lombo, eu podia pensar sossegado. Meus esquis, ao lado do assento do passageiro, junto à porta, iam amarrados ao cinto de segurança pra não balançarem. As botas no porta-malas, presas às redinhas. Uma só mala, roupas de neve no sacão, e meu laptop — era tudo que levava, fora a saudade sufocante que me fazia correr, correr, adentrando no túnel quente formado pelos faróis — esse túnel quente e convidativo que tanto me atraía, que orgânica e sensitivamente tanto necessitava. Aumentei para 250 km/h.
Um postinho de gasolina no meio do nada estava com as fracas luzes acesas. Pus em ponto-morto e fui bombeando levemente o acelerador, oscilando o giro entre mil e três mil rpm. Parei pra pôr gasolina e para um cafezinho. Desligo, desço, estico-me espreguiçando. Escuto o motor dando estraladinhas: tic tic tic. Estava quente o bichão. Late um cachorro peludo e poeirento, que levantando e vindo em minha direção, também se espreguiça, enquanto late um latido rouco e boceja ao mesmo tempo. Faz bem seu papel de vigia, porque logo lá de dentro vem um homem baixo, magro, cara de índio, coçando-se e piscando pra acordar. Ralha com o cão. Peço para encher o tanque com a “Nafta Fangio”, “la mejor”, a que tem maior octanagem. Enquanto eu lavava o pára-brisa com aquela água gelada, ele me convidou para um café, cortesia da casa. Fomos pra dentro. Ao fechar a porta atrás de mim, vejo o cão urinando na minha roda, molhando meu cavalinho rampante. Essas rodas não enferrujam, mas, não adianta, considero uma injúria. Tenho ímpetos de chutar-lhe os bagos. “Paciência, antes de sair jogo uma água” — pensei, e entrei. Cozinha quente, abafada. Do quarto, sua mulher falou algo ininteligível e Sebastian a aquieta: “Durma, Maria, durma!” — e virando-se para mim, resmungou: “— Carajo! Hasta en sueño esta mujer dame órdenes! Carajo de mierda!”
— O senhor conheceu o Fangio? — pergunto.
— Não. Quisera ter conhecido! Grande homem, grande argentino, por supuesto! — responde. — Mas, meu pai, sim, o conheceu. Uma vez Fangio passou por aqui, comprando pneus durante a guerra de quarenta. Durante a guerra mundial as corridas na Argentina foram suspensas, por economia. Sabia você que nesses anos ele sobreviveu comprando e vendendo pneus usados? — conta Sebastian.
— Sim, fiquei sabendo. Um amigo dele, Don Barragan, me contou — respondo.
— Homem duro em negócios, porém, correto. Pagou de pronto, carregou seu caminhão e partiu. Voltou outras vezes. Não era muito conhecido então. Homem forte. Forte como um touro. Munhecas de aço! Jogava pneus de caminhão acima da carga e nem bola dava!
— Eram tempos mais duros, de homens mais rijos… Bom café o seu. — comento.
— Gracias — agradeceu Sebastian.
— Gracias usted. Tenho que ir. San Martin está longe? — pergunto.
— Uns 500 quilômetros. Disseram que há muita neve adiante, quando começa a subir. Vejo que está sem pneus de neve. Cuidado, vá devagar, pois terá trechos escorregadios, gelo negro antes e depois da neve. Buen viaje, amigo.
— Buen trabajo a usted, amigo. Boas vendas! — desejo-lhe.
— Há, há! Vendas? Por acá solamente pasa el viento — sorri o Sebastian.
Saímos, paguei-o, lavei a roda. O cão nem saiu do seu tapete. Só levantou de leve a cabeça, deu uma olhada, e voltou a enrolar-se. “Um dia ainda invento um choquinho na roda só pra dar um tec no pinto desses bichos.” Ajeitei-me ao volante. O assento ainda estava quentinho, liguei o Ferrari e saí devagar, ronronando, pra não acordar a Maria. A Maria acordando ia encher o saco do Sebastian. Coitado do Sebastian. Um bom clima para um conto de assassinato, há há. Mais adiante, já com o motor azeitado, fui acelerando devagar a terceira marcha até pegar na veia do torque, na melhor respiração dos cilindros, e aí sim atolei o pé duma vez pra voltar rápido ao ritmo forte.
“Quinhentos quilômetros. Uns quatrocentos e poucos de retão até começar a subir os Andes. Mais uns setenta de serra, quando deve haver neve em alguns trechos, e daí, chego. Os quatrocentos e pouco faço em duas horas. A serra faço em uns quarenta ou cinqüenta minutos, portanto, acho que dentro de três horas, lá pelas cinco e pouco da manhã, devo estar chegando. Dará tempo pra sentir o cheirinho da minha mulher, aquele cheiro que me enche as veias. Dará para comer, dar um cochilo, e depois, à tarde, subir o Cerro para nos encontrarmos com as meninas na pista de esqui. Beleza!” — eu estava contente.
Perto dos Andes começa um vento forte, vindo do sul — cortante, gelado. O Ferrari me aquece. Estou só com um moleton surrado e confortável. Uma rajada mais forte balança o carro. Reduzo pra 200. Com esse vento batendo, o gado — geralmente da raça Hereford nesta região — agrupa-se em locais mais protegidos em alguma bacia do terreno. Gado peludo e atarracado, canelas curtas e grossas, para agüentar o frio. Não posso vê-los, mas sei que são e estão assim. A bezerrada fica no meio, onde é mais quente e chega a ser abafado. Os locais que o gado escolhe para dormir costumam ser bons para construirmos nossa casa.
Placa indicando saída à direita para Junin e San Martin. Freio, mas faço-o delicadamente, pois há horas que não os uso e devem estar gelados. Nem ajudo no freio-motor, pois quero esquentar um pouco os freios para o que vem adiante. Saio da estrada que vai em direção a Bariloche. Placa de distâncias: Junin de Los Andes, 37 km, San Martin de Los Andes, 82 km. Estou no sopé da cordilheira. Já vejo seu enorme e silencioso vulto, ainda mais escuro que o céu noturno — chega a ser tenebroso. Ao redor, ainda só vegetação agreste. O verde restringe-se às margens do rio raso e pedregoso que acompanha a estrada. Beirando o rio há carreiras de álamos, que se espicham em direção ao céu parecendo labaredas. Sei que estou cruzando a fazenda do Ted Turner, cujo gerente, Eduardo, é meu velho amigo de pescarias de truta. Cinqüenta mil hectares de reserva. Todas as vezes que por aqui passo vejo rebanhos de cervos, alguns com mais de cem cabeças. Preciso vir aqui pra andar a cavalo com o Eduardo e ver esses bichos de perto. Estou doido pra isso. Inalar o cheiro do bicho selvagem. A cavalo os cervos não se espantam — me disse o Eduardo —, acham que a gente, o homem e o cavalo, é um animal só. Tal qual eu e este Ferrari.
Agora as retas são curtas, mal engato a 6a e já tenho que frear, reduzindo pra 4a, ou 3ª. Frear, curvar, e acelerar nas saídas de curva com este carro são emoções intensas, plenas. Ele, prontamente, obedece a tudo. Nem ele nem eu cansamos dessa brincadeira, de tão boa. Acelera feito um foguete. O que estava lá adiante logo já é passado. Nosso cérebro tem que trabalhar a jato, acompanhando o carro. Posso tomar as curvas com liberdade. Posso deixá-lo escorregar até triscar com os cantos dos pneus os pedregulhos do acostamento. Estamos a sós na estrada.
Ao longe vejo a claridade da neve que toma a pista. “Êpa, tá na hora de ir baixando a bola”. Vou reduzindo com calma, só segurando no motor. Entro na neve em 3a, o carro oscila e vamos pro outro lado da pista, esquiando. Na ponta dos dedos vou trazendo-o de volta, desacelerando-o devagar, tirando o pé na maciota, sem frear, segurando só no motor, na tração traseira, para ter o máximo de controle da direção. Tudo em ordem, sob controle; suavemente engato 2a e sigo em giro baixo. Constantemente perco aderência. Vou corrigindo na delicadeza. Paro, abro a porta e passo os dedos na neve, no chão, para sentir sua viscosidade… Está realmente liso. E como está frio lá fora! Patagônia, inverno, quatro da manhã, neve, vento — tinha mesmo que estar frio. Fecho a porta. Brrrr! e aumento a ventilação com ar quente. Sigo assim por meia hora, devagarzinho. Com estes pneus a coisa está à beira do incontrolável, e isso, por muito tempo, é chato. Imagino que um gaúcho no seu Crioulo me passaria a galope, me cumprimentaria segurando a aba do chapéu, e seguiria com o cavalo bufando e sumindo na noite. Que troncudo que é esse Crioulo! Que anca forte! Que arranque! — penso — Seria legal estar agora a cavalo. No meio dessa noite, no meio desse silêncio, só escutando o vento, o patear do cavalo e suas bufadas. O poncho de lã, descendo de meus ombros e envolvendo o animal, me traria seu calor e seu cheiro acre.
É melhor abastecer logo aí em Junin de Los Andes, pois, se escapo da estrada é bom ter o tanque cheio pra manter o motor ligado e não congelar. Saio, me espreguiço, tomo um chocolate quente de queimar a língua, abasteço.
Agora falta pouco. A neve passou. Ela é tal qual chuva, às vezes neva aqui e neva ali, e às vezes é geral. Pista seca, a serra é sinuosa. Faço as curvas de lado, feito doido, com o controle de tração desligado, pra destravar do sufoco que passei na neve. Baita carro! Estanca nas freadas, e acelera em qualquer marcha com uma força fenomenal. Mas é trecho curto, e logo cessa a subida e começo a descer. Vou diminuindo a velocidade. Álamos, pinheiros, grama verde, algumas casas aqui e acolá: é o início do vale, o fio do vale de San Martin. Vejo, sinto, as pesadas montanhas nevadas circundando. Caem vagarosamente flocos brancos do céu; não há vento, o vale está protegido. Neva forte. Deixo o pára-brisa quase tapar para ligar o limpador.
Amanhã a cidade estará branca de neve. Amanhã a cidade estará silenciosa, os sons estarão curtos, abafados pelo colchão branco e entorpecedor. Amanhã o Ferrari descansará no velho barracão, ao lado da lenha.
Sigo devagarinho, pra não acordar ninguém da vila, pra minha máquina ir relaxando, pra eu ir relaxando.
Chego à nossa cabana. A luz de fora está acesa, o abajur da sala está aceso. Na certa há brasa na lareira e a sala está morna, com aquele cheirinho gostoso de lenha de pinheiro queimada. Desligo de mansinho, sem acelerar. Visto o casaco puxando o zíper até o queixo e saio do Ferrari. Sorrindo e agradecendo dou um beijinho no capô, que está gelado por fora mas quente por dentro: “Obrigado, meu chapa. Você é mesmo um companheirão!”
Viajamos bem, do jeito que gosto – fazendo o que este carro foi feito pra fazer…
ooooo
(Continua outro dia)