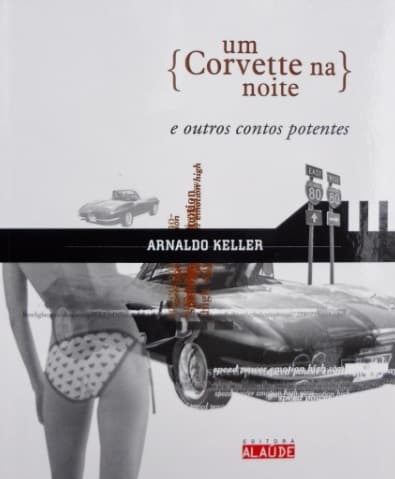Caro leitor ou leitora,
Aqui termina a reprodução, no Ae, do livro do Arnaldo Keller “Um Corvette na noite e outros contos potentes”, com o sexto e último capítulo denominado “Moorea: um Lotus taitiano”. Esse capítulo, mais que os anteriores, é ainda mais repleto de emoção e sensualidade, no qual o AK descreve uma época e um cenário com a sua notável capacidade de escritor misturada com conhecedor de automóvel.
Esperamos que você tenha apreciado este livro típico de autoentusiastas.
Boa leitura e desculpe-nos pelo atraso na atualização de hoje.
Bob Sharp
Editor-chefe
_________________________________________________________
UM CORVETTE NA NOITE E OUTROS CONTOS POTENTES
Por Arnaldo Keller
Capítulo 6 – Moorea: um Lotus taitiano
O que vou contar ocorreu há alguns meses. Muita coisa fora da rotina aconteceu nesse período e só agora tive tempo para sentar e escrever.
Era verão e o calor sufocava. Aqui em Moorea, durante o verão, lá por três horas da tarde costuma fazer um calor de amolecer. E quando o ambiente abafa duma vez, parecendo que respiramos água, é sinal que a chuva está chegando. O suor brota de nossa pele e lá fica, não evapora. Poucos pássaros voam, e os que voam o fazem por necessidade. As pessoas e os bichos se escondem. Mas a gente agüenta, sabendo que em breve virá a abençoada chuva para nos refrescar.
Sob a sombra de uma árvore, no meu táxi, um Peugeot 405, eu, volta e meia, observava o céu. Com um lenço já ensopado, procurava, em vão, enxugar o rosto. Olhando, esperava ver por entre as nuvens o pequeno avião que traria os turistas de Papeete, capital que fica na ilha próxima de Taiti. São dez minutos de vôo, se ele vier direto, porém, às vezes o piloto está de bom humor e de lambuja resolve dar umas voltas por cima da ilha para maravilhar os turistas, e nisso vão mais uns cinco ou dez minutos. Nestas ilhas da Polinésia Francesa as coisas não são muito rígidas; seria insensatez. O avião da tarde chega mais ou menos às quatro. O da manhã, mais ou menos às nove. Os turistas também chegam pelo mar, de ferry boat, mas dou preferência aos que vêem de avião, já que estes costumam ter mais dinheiro e ir ao hotel mais pitoresco, mais caro e distante, o Méditerranée.
Para não ficar muito tempo no saguão do pequeno aeroporto, tenho esperado fora, mesmo passando um calor lascado. Isto porque Corinne e Dalila trabalham no balcão da linha aérea e ocorreu de, na ocasião, eu estar mantendo casos com as duas ao mesmo tempo. Não tive culpa, simplesmente aconteceu. Tenho vinte e quatro anos, trabalho no meu táxi, pego onda quase todo dia, mergulho com meus amigos, tenho paixão por carros esportivos e, além disso, só penso em mulher. Coisas da idade, dos hormônios, dizem. Sou meio machista, sei disso, mas essa é uma característica da nossa cultura. Somos felizes assim — mulheres e homens. Nossa sociedade está baseada nisso. Eu, particularmente, até que sou maleável, pois fui influenciado por meu pai, que era inglês. Minha mãe é taitiana, daí meus olhos claros, cabelos crespos e pretos, e pele morena. Diz minha mãe que descende de Gauguin, isso mesmo, Paul Gauguin, o pintor impressionista que veio viver nas ilhas em fins do século XIX. Se todos que dizem ser descendentes do célebre pintor realmente o forem, esse francês maluco passou um belo pente fino nas nossas mulheres…
Naquele momento, no calor do meu táxi e sem nada para fazer, eu pensava em como conhecera Corinne.
Era começo de noite e eu cruzava o bangalô central do Hotel Méditerranée. Havia trazido um casal em lua-de-mel e após deixá-los eu aproveitava para ir tomar uma cerveja gelada no bar, o que me cairia muito bem, esfriando o sangue que me borbulhava nas veias. Caminhando, vi que de costas para mim um sujeito encostava-se em uma coluna de madeira, das que sustentam o telhado de sapé. As duas mãos às costas. De frente para ele e, por conseguinte, para mim, uma moça de tipo ardente. Jeito de francesa, cabelos castanhos, queimados de sol, rebeldes. Pele morena, bronzeada. Olhos azuis, boca carnuda, biquíni fininho também azul, seios pequenos, sarongue florido, mãos nos amplos quadris.
Ela me fitou e abriu um sorriso branco e espontâneo. Dessa boca veio um “bon soir” delicioso, um pouco rouquenho, suave. Confesso que o inesperado choque de gostosura me atrapalhou e, já que ela estava acompanhada, limitei-me a também sorrir e retribuir o cumprimento, seguindo adiante para o balcão para depois ver onde ia dar a coisa. Fiz o pedido ao meu amigo barman e, quando me voltei, já não a vi. Ela sumira, tal qual uma gata some.
Uma das vantagens de morar numa pequena ilha onde vivem só umas nove mil pessoas é que sempre acabamos por cruzar com quem queremos. Senão aqui, ali; tal qual num navio em alto-mar. Em vista disso, mantive a calma, pois sabia que mais cedo ou mais tarde nossos caminhos iriam se cruzar. Com a consciência em paz, aproveitei a cerveja e os amigos.
Puxa! Como esse vôo está demorando! E que calor! O rádio do meu táxi tocava Elvis Presley. Sujeito ridículo e metido a bacana. Bundinha solta, porém, cantava bem o filho-da-mãe. Nos seus shows ele estava sempre enxugando o suor do rosto com uma toalha. Boa essa! Vou passar a levar uma toalha no carro. É o jeito.
A brisa marinha aumentava, já virando vento, sinal que o aguaceiro estava bem perto. A montanha de mata tropical ao meu lado direito certamente escondia as nuvens pesadas, que em breve cobririam a ilha como uma gigantesca onda.
Vi no céu o avião que baixava. Torci para que a chuva demorasse a chegar e me desse tempo de embarcar os turistas. Desci, deixei o carro aberto e entrei no saguão. Lá, o ar-condicionado estava à toda, simulando um clima gelado a asséptico que nunca vigorou nestas ilhas. Passando de fininho, vi que a Corinne e a Dalila estavam entretidas atendendo clientes. Embarafustei-me entre os colegas oferecendo táxi aos recém-chegados. “Táxi! Táxi!” Um casal de coroas, já com o nosso tradicional colar de flores de boas-vindas, veio para o meu lado. “São esses!” – pensei.
O homem, baixinho, barrigudinho, narigudo, camisa solta sobre a bermuda que desnudava pernas finas e brancas, sem pelos do meio da canela para baixo, de tanto usar meias, creio eu. Calçava um mocassim surrado. Olhos pequenos e vivos, apreciadores e espertos. A mulher, alta, mais alta que o marido, magra, ossuda. Seu olhar era calmo, doce e carinhoso para com o velhote. Mãos grandes, de movimentos lentos. Vestido florido, rosa, leve. Ela, com o braço dado ao marido que empurrava o carrinho das malas, apontou na minha direção. Os dois vieram. Dei-lhes as boas-vindas e, por entre sorrisos, fui logo dizendo que meu carro tinha ar-condicionado e que os levaria a qualquer lugar da ilha e coisa e tal, como de praxe. “Vamos?” — perguntei. “Vamos!” Passei a empurrar o carrinho e de esguelha olhei para as minhas namoradas. Ambas me viram. Olhares irados e faiscantes das duas. Já eu, mostrando os clientes, fui me mandando antes que a barra pesasse.
Carreguei o carro enquanto o senhor sentava-se no banco dianteiro de passageiros. A senhora, de pé ao meu lado, observava como eu acomodava suas malas. Ajeitei tudo direitinho e fechei o porta-malas. Ela entrou no carro e fechei sua porta. Fui para o volante, coloquei o Ray-Ban que foi de papai e disse:
— Bom, então, para onde?
— Hotel Méditerranée. Temos reserva — o baixote respondeu —, é longe?
— Não, não! Só meia horinha por lindas paisagens à beira do mar. Querem que ligue o ar? Está calor.
— Odeio ar-condicionado, principalmente aqui. Deixe como está, por favor, com as janelas abertas. Minha mulher gosta de ar frio, mas ela fará esse sacrifício por mim. Não fará, querida? — ele disse, enquanto estufava o peito e aspirava gostosamente.
— Claro, meu bem! Já estou sentindo o perfume da mata. Está ótimo! — ela exclamou, num suspiro encantado.
Adoro observar o jeito como os turistas aqui desembarcam. Parece que adentram num sonho bom…
Partimos.
— Para que lado está o hotel? — perguntou o senhor.
— Bom, resumindo, o aeroporto está no extremo leste da ilha, e o hotel no extremo oeste. Seguiremos pela face norte e pela metade do caminho passaremos por duas baías bem fechadas. Primeiro pela Cook’s Bay e depois pela Opunoho Bay. Entre elas, separando-as, há uma montanha escarpada, a Rotui, com 898 metros de altitude. Tenho certeza que monsieur e madame irão gostar do caminho — expliquei — E, por favor, posso saber seus nomes?
— Monsieur e madame Maigret, de Paris — respondeu o senhor — Et vous? — perguntou.
— Charles, monsieur — respondi — meu pai era inglês. Estranho, mas esse nome, Maigret… Maigret… acho que é bem conhecido.
— Meu tio foi um famoso investigador de polícia em Paris. Seus casos escabrosos estavam sempre nas manchetes. Deve ser por isso — afirmou.
E assim fomos papeando. Casal simpático.
A estradinha que vai do aeroporto ao hotel beira o mar e serpenteia ora entre a mata e ora entre coqueirais que adentram as praias. Os troncos finos e nus dos coqueiros, com suas longas folhas sendo esticadas pelo vento, balançando como bailam nossas dançarinas, abrem visão para o horizonte. Lá ao longe, um quilômetro mar adentro, vemos as ondas enfurecidas batendo e espumando de encontro à barreira de corais que protege a laguna. Logo fora da barreira já é alto-mar, mar profundo, pois Moorea é uma ilha vulcânica e não há plataforma continental. Já barreira dentro, as águas são calmas e translúcidas, quase uma piscina.
Só quem esteve junto à barreira de corais conhece a tremenda força e determinação com que as ondas investem. Elas explodem, rugem, fazendo tremer a água em redor. Costumo pegar a canoa polinésia de meu tio, dessas que têm um estabilizador de lado, para no fim da tarde remar pelas águas calmas até a barreira. Fico do lado de dentro, pertinho da arrebentação, extasiando-me com a energia liberada. Não me canso disso. A onda explode: BUUMM!, as águas tremem a ponto da canoa vibrar, e a parte superior da massa d`água flui, fazendo-nos subir e descer vagarosamente. É uma delícia sentir que a natureza é infinitamente forte e que nós somos pequenos. Ela é uma mãe brava. Surfando, envolvendo-me nas ondas, sinto seu carinho.

Num desses passeios de canoa na laguna, logo após a noite em que primeiro vi a moça do “bon soir”, peguei uma repentina chuva torrencial. A água fria me gelava as costas e eu tiritava de frio, pois estava com o corpo quente da remada e do sol que antes fazia. Resolvi parar numa ilhota ali perto para me abrigar. Remei em direção a ela. Antes de chegar, porém, a chuva cessou e um arco-íris brilhou forte a ponto de ofuscar. Fui dando a volta na ilhota, para chegar à prainha. Alguém estava na areia. Duas mulheres. Uma canoinha parada, amarrada a uma pedra, com máscaras de mergulho e pés-de-pato jogados em seu fundo. A canoa balançava suavemente. Na certa deveriam estar mergulhando quando a chuva chegou. Uma delas, ao me ver, levantou-se e veio à beira d’água. Estava com os seios nus, o que me fez supor ser uma francesa, pois elas não perdem a chance de ficar assim. Colocou as mãos na cintura, abriu um sorriso e acenou. “Caramba! É a moça do “bon soir”!”, pensei. O frio passou duma vez e remei mais forte em direção ao sorriso acolhedor. Ela me ajudou, puxando o bico da canoa para a areia enquanto eu desembarcava. Veio quente para perto de mim. “Uau! Que calor de mulher! E ainda por cima prestativa! Coisa rara”, constatei.
Ali, sentada na areia, estava sua amiga, também de topless. Uma moreninha mixuruca. Fiz-lhe um aceno e continuamos de pé, Corinne e eu, conversando. Não resisti e, com naturalidade disse a ela que seus seios eram lindos, que ela era linda, que sua voz era gostosa e que eu não parara de pensar nela desde aquela noite. Que era incrível encontrá-la ali e coisa e tal. Mostrei-me emotivo. A gente tem que se mostrar emotivo para que elas sintam que somos capazes de paixão. O desejo de muitas francesas que aqui vêm é dominar um nativo e domá-lo pela paixão. Pois então, que seja.
A amiga fumava um baseado de haxixe. Levantou o cigarrinho, oferecendo-me. Agradecendo, declinei do convite. Disse à Corinne que eu estava bem, que esta realidade já era um sonho e coisa e tal. Papo bravo, mas, quando queremos comer alguém, falamos asneiras; é inevitável.
A certa altura, achei melhor ir embora. Pois ia fazer o quê? Com a amiga ali por perto não ia rolar nada. Não ia, eu percebi. Então, achei melhor ir embora um pouco antes do que ela esperava. Combinamos de nos encontrar à noite, no Hotel Méditerranée, onde ela trabalhava de G.O.. Ela levantou o braço direito e me afagou a nuca. Por sorte essa francesa raspava os pelinhos de debaixo do braço. Muitas não raspam. As taitianas raspam. Puxou minha cabeça e deu-me, de leve, um beijinho na boca, de despedida. Senti uma boca macia e um hálito delicioso com leve gosto de sal marinho. Perdendo um pouco o controle, aproximei-me e fiz menção de abraçá-la, mas ela afastou-se e, dizendo que logo mais nos veríamos, desceu a mão pelo meu pescoço e peito. Estremeci, sentindo minha energia concentrando-se no meu ventre. Mas, paciência. Contrariado, pus a viola no saco e fui pra canoa. Gastei a energia despertada remando forte. O jeito era esperar pela noite.
E foi assim que conheci Corinne, há um ano, mais ou menos.
Monsieur e madame Maigret estavam realmente felizes a caminho do hotel. Do banco de trás ela afagava-lhe o ombro e mexia em seu colar de flores. Já ele, despreocupadamente, cantarolava engraçado. Deixei-os no hotel e combinamos um island tour para o dia seguinte bem cedinho. Eu os levaria à montanha Rotui, a tal de onde se vê as baías Cook’s e Opunoho, a paisagem mais estupefaciente da ilha. Nessa tarde, apesar das fortes ameaças, não choveu.
Fui pra casa. Moramos nas cercanias do vilarejo de Papetoai, ao lado da baía Opunoho. Nossa vira-latas Wahine, como sempre, veio fazer festa e me arranhou as pernas. Sua pelagem é rajada de marrom. Dizem que cães com essa pelagem têm sangue primitivo, selvagem, mas Wahine não parece ter nada de selvagem, além de seu amor pelo dono: eu. Beijei mamãe, deitei na esteira com a cabeça em seu colo, pedindo carinho. Ela sorriu e ficou me coçando as costas, o que adoro. Contei meu dia. Com ela converso em taitiano. Vendo a foto de meu pai no porta-retrato, pedi a ela para, mais uma vez, falar dele. Ele morrera ainda jovem, quando eu tinha quinze anos. Ela gosta de falar dele. Eu gosto de ouvir as mesmas histórias.
Já meio sonolento, reagi, beijei-a e levantei para tomar um banho lá fora na bica de bambu. O barulho da água caindo misturava-se aos sons das folhas de coqueiro chacoalhadas pelo vento. Wahine, como sempre, ficara sentada na beira da porta do chuveiro, daí que toda vez que saio do banho tenho que abrir a porta com cuidado, pedindo para ela sair dali. Ainda só de toalha, jantei atum, fruta-pão, arroz e, de sobremesa, banana com sorvete. Já anoitecera. Vesti a bermuda. Gosto de andar sem camisa e descalço.
Beijei mamãe e disse que ia passear de carro. Não disse pra onde ia, mas, Dalila me esperava. Minha mãe certamente sabia. Ela sabe de tudo.
Abri a garagem de madeira. Acendi a luz fraca e fui tirando a lona de cima do Lotus Eleven, que estava de frente para a saída. Ele é bem baixinho. Descobri a boquinha da entrada de ar do radiador. O contorno amarelo parece lábios que abrem num sorriso, contente por passear. Ele é verde, British racing green. Frente longa, baixinha. Pára-brisa de acrílico, baixinho. Cockpit pequeno, estreito. Traseirinha curta, baixinha, com o torpedo atrás do motorista para não vir vento por trás da nossa cabeça. Joguei a lona em cima da Vespa 150 e, apertando uma borboleta que fica escondida sob o pára-lama esquerdo do Eleven, liguei a chave-geral. Abri a porta fininha e levinha, de alumínio, e ajustei-me no duro banco vermelho. Painel em alumínio, mostradores Smiths, com o conta-giros marcando a faixa vermelha iniciando nas 7.000 rpm. Motor Coventry-Climax de quatro cilindros em linha, 1.097 cm³ de cilindrada. Esse motor, preparado pela Lotus, saía de fábrica com 72 cv, já os de competição, como o meu, beiravam os 100 cv. À primeira vista, não parece muito, mas, é um carro que em ordem de marcha pesa só 450 quilos. Com o tanque vazio pesa 410 quilos. Isso mesmo, só 410 kg, uma pluma. Tenho certeza do peso, pois o conferi na balança do porto. Para ter uma idéia, sua relação peso-potência de 4,1 kg/cv o equivalem a um carro de 1.300 kg com um motor de 316 cv. Portanto, meu velho, este Eleven anda pra burro! E, por ser leve, faz curvas num zip, zap de um raio.
Liguei a ignição no interruptor do painel e escutei a bomba elétrica funcionar. Dei a partida apertando o botão do motor de arranque no painel e… Vrruumm! Vrruumm! Deixei-o virar um pouquinho a uns dois mil giros. Apoiei o braço direito no alto túnel da transmissão e, devagar, delicadamente, engatei primeira marcha na alavanca curtinha. Tirei-o pra fora da garagem para não ficar aspirando os gases de escapmento e deixei-o virando a dois mil giros. Destes aqui, entre 1956 e 1957, só fizeram 270, ao todo.
Só saio com o Eleven uma vez por semana, e ando pouco, pois, afinal, é um carro de corrida de 1957. Estamos em 2000, portanto, tem quarenta e três anos. Para mantê-lo em forma, sempre que saio, dou uma esticadinha ao menos, tal qual meu pai mandou. Uma aceleradinha faz bem. Umas freiadinhas também, pois tiram a ferrugem dos quatro discos Girling.
Wahine estava ao lado do carro, ansiosa, só olhando e abanando o rabo. “Não, Wahine! Hoje, não!” — exclamei. Ela adora passear de Lotus. Esperta, ela. Ao meu lado, tomando vento na boca e com a língua desfraldada, sente-se a Rainha da Polinésia. Mas dessa vez ela ficaria em casa; eu ia ver a loirinha Dalila.
Às seis da manhã, com um ramalhete de flores vermelhas de hibisco no porta-malas do Peugeot 405, eu já esperava monsieur e madame Maigret na portaria do hotel. Uns vinte minutos atrasados, eles vieram felizes e lampeiros. Monsieur já havia dado umas braçadas no mar e vinha maravilhado com a água tépida e transparente. Nos acomodamos e, em seguida, disse-lhes que estávamos atrasados e que poderíamos perder a mais bela hora da vista, que é quando o sol nascente suplanta as montanhas, iluminando aos poucos as baías. Daí, caso quisessem ver o espetáculo, eu teria que correr.
— Você cobra mais caro por isso? — monsieur perguntou.
— Ha, ha! Não, não! Pelo contrário! Cobro mais barato até, pois gosto de correr!
— Então, meu rapaz, mostre do que é capaz! — o velhote instigou.
Olhei para trás, esperando a aprovação de madame. Ela apertou o cinto, fez cara de conformada e resmungou: “Allez, mon garçon. Estou acostumada com essas coisas”.
Engatei primeira no Peugeot 405 e saí cantando pneus. Conheço cada curva dessa estradinha sinuosa. O asfalto está perfeito; uma das vantagens de sermos uma possessão francesa. E assim seguimos correndo. E o velhote nada. Nada de mostrar desconforto. Nem aí. Andei ainda mais rápido, freando ainda mais tarde e acelerando forte durante as curvas para trazer a frente do carro para dentro, já que a tração é dianteira. E o monsieur, tranqüilinho. De qualquer modo, achei melhor não abusar demais, diminuí o trem e pegamos a estradinha de terra que vai até o belvedere da Rotui. Subimos até o belvedere, que está a uns 500 metros de altitude.
— Pronto! Ufa! Chegamos a tempo! — exclamei.
Descemos. Monsieur Maigret abriu a porta da esposa, deu-lhe a mão e em seguida enlaçou-a pela cintura fina e alta. Foram juntos os dois até o parapeito de paus roliços que beira o despenhadeiro. Lá ficaram, enternecidos, admirando o despertar da ilha, apontando belezas. A pé, aproveitei para levar as flores de hibisco a um lugar especial ali pertinho, onde falei um pouco do que andava fazendo da vida, rezei, fiz o sinal da cruz e voltei ao carro. Tirei um cochilo no carro. Eu estava cansado. Dalila, aquela danada de magrelinha peituda, pelos modos na noite anterior, não quis que sobrasse nada para a rival…
Acordei com madame me chamando.
— Charles! Charles! Mas que beleza de lugar! Obrigada!
— Hummpf. Que nada, madame. É meu trabalho — respondi. Huhruumm…, me espreguiçando, “Gostaram?”
— Minha nossa! Se gostamos! — respondeu.
— Diz a lenda que esta montanha quase foi roubada. Um tal de Hiro veio com seus homens e foram cavando do mar, tentando enlaçá-la em forma de pinça, para assim levar a montanha para a ilha de Raiatea. Daí a formação das baías. Mas foram descobertos a tempo e expulsos — expliquei.
— Ainda bem que o plano deles falhou. Não é? — ela brincou.
— Oui, madame. Ainda bem…
— Vamos voltar para o hotel? Queremos mergulhar para ver os corais. Há lugares fáceis, sem perigo?
— Oui, madame. Sem perigo algum. Se quiserem, posso levá-los, pois conheço bem as paragens.
E assim passamos o dia. Mergulhamos um tempão e impressionei-me com a resistência de madame. Convidaram-me para almoçar com eles no hotel e, já amigos, no final do almoço, monsieur Maigret expôs o motivo de sua vinda ao Taiti.
Contou que na juventude foi um famoso piloto de corridas de automóvel. Sua especialidade era as corridas de endurance, longa duração, como a 24 Horas de Le Mans, 1000 Quilômetros de Nürburgring e Mille Miglia. Estavam a caminho de Auckland, na Nova Zelândia, pois Jules era um convidado de honra em uma corrida de autos clássicos, onde participaria com um Alpine 1600 S emprestado por um amigo neozelandês. Resolveram, antes, parar por três semanas no Taiti, para conhecer o arquipélago e, ainda mais importante, ver se achavam o rastro de um velho amigo, companheiro de volante.
Já comecei a desconfiar…
Ele continuou.
Seu amigo, um inglês, em meados dos anos 1970 resolveu mudar-se para Sydney, na Austrália. Após sua partida, nunca mais monsieur teve notícias dele. Porém, há poucos anos, ouviu falar que seu amigo mal chegara a Sydney e voara para o Taiti, em busca de seu carro de corrida de estimação, que por engano havia sido desembarcado do navio em Papeete. No Taiti, disseram, seu amigo conheceu uma nativa, apaixonou-se e casou. Assim, portanto, resolveu lançar âncora na polinésia e ali esquecer do mundo.
— Monsieur, huhuumm! Tenho uma boa notícia. Ontem mesmo passeei com o Lotus Eleven de papai. Ele conseguiu tirar o carro da alfândega, sim — informei-o, contente.
— O quê!? Como? Seu pai? Frederick!? — ele exclamou. — Não é possível! Mon Dieu! Viu só, Gabrielle? Mas que coincidência! Achamos! Achamos!! Ha, ha! Então você é filho de Fred?
— Oui, Monsieur. Ha, ha! Sou filho do Frederick.
— E como ele está? Onde ele está? — ele perguntou, entusiasmado.
— Lamento, monsieur. Papai faleceu há uns nove anos — disse-lhe.
— Mon Dieu! Que pena!
— Mas fique sossegado. Aqui ele viveu feliz e morreu em paz. Hoje cedo, lá na Rotui, lhe levei flores, mandadas por mamãe. Minha mãe ainda vive, ainda linda e forte. Só um pouco pesadinha, como costumam ficar as mulheres destas ilhas quando amadurecem. Ela adorará conhecê-los, por favor.
— Mais, oui! Certement! Gabrielle, vamos já? — perguntou à esposa.
— Vamos, chérie! Vamos! — ela incentivou.
— Então vamos!, decidi. — Assim aproveito e lhe mostro o Eleven, monsieur.
— Isso mesmo! O Eleven! Eu não acredito! E chega de monsieur, por favor, meu filho! Meu nome é Jules. Me chame de Jules.
— Oui, Jules. Então, os espero lá fora.
Naquela tarde em que conheci Corinne na ilhota, depois de remar forte para a praia, assim que calculei que faltava mais ou menos um quilômetro para chegar, resolvi soltar os músculos nadando. Ajeitei o remo no fundo da canoa, coloquei os óculos de natação e pulei na água. Fui para a proa, peguei a cordinha de amarração e atei-a na cintura. Saí nadando. A canoa é tão leve e hidrodinâmica, que uma vez embalada mal sentimos o arrasto. Com os pensamentos relaxados que a natação provoca, e vendo os corais e peixes passando por baixo, assemelhei a canoa ao Eleven…
Chegando à praia, puxei a canoa para o ranchinho, montei na Vespa 150 e corri pra casa. Chegando, a Wahine me arranhou as pernas com a festa, tomei um banho na bica, pedi a Wahine para sair da porta, vesti uma bermuda e camiseta, beijei mamãe, montei na Vespa e fui chispando para o hotel.
Tomei uma cerveja com o barman, Temaru, meu companheiro de surfe, que me contou como estavam as ondas nas saídas das lagunas para o mar, pois é nos bordos dessa espécie de foz que quebram as ondas. Elas são cavadas, tubulares e quebram em direção à parte funda do canal, raramente fechando. Para ir ao pico, entramos pelo canal sem tomar onda na cabeça. Agora no verão as ondulações vêm do norte, e assim é a vez dos picos do norte da ilha quebrarem. A direita de Taotai e a esquerda de Papetoai estavam boas, com uns seis pés de onda. São points rasos. Aqui na ilha todos são rasos e sobre corais pontiagudos. Tenho um bocado de cicatrizes por todo o corpo testemunhando isso.
Dei um tempo com Temaru e saí do quiosque central para procurar Corinne no restaurante dos funcionários. Os caminhos que conectam os quiosques e bangalôs são estreitos, só o suficiente para duas pessoas andarem lado a lado, e de pedregulhos redondinhos. Ele vai desviando dos inúmeros coqueiros, daí nunca formar retas, só curvas. Os pequenos postes de luz se restringem a, debilmente, iluminar o chão. Caminhando, pensei em Corinne. Ansiei por Corinne. Desejei tanto que concluí que seria tão bom se ela aparecesse ali, que ela teria de aparecer bem naquele momento. Teria…
Pareceu que eu estava com poderes mágicos, pois dali a pouco ela apareceu, surgiu vinda do escuro, como uma corporificação do meu desejo. A princípio achei que minha imaginação exagerara e me fazia ver coisas, porém, era a Corinne real mesmo. Meu peito borbulhou. Ela vinha com um vestido longo e leve, florido em azulzinho claro, de algodão fininho, sustentado por finas alças nos ombros. Veio sorrindo. Dentes brancos, fosforecendo em contraste com a pele bronzeada. Uma flor amarela de hibisco enfeitava seus cabelos. Veio direto e, chegando mais perto, levantou os braços e me enlaçou pela nuca. Sua boca abriu-se molhada e doce, com gosto de uva, e, uva da boa, francesa, pois aqui não dá uva. Apertei-a sentindo seu corpo gostoso. A pele estava lisinha e fresca, todavia, suas carnes estavam mornas.
Depois de uns apertos, propus:
— Vamos para a praia ver a noite?
— Vamos. A noite está linda…
A praia era ali ao lado. Demos as mãos e fomos. Chegamos. Um rápido olhar para as estrelas e voltamos a nos agarrar. Beijo delicioso, entontecedor. O primeiro beijo numa mulher é uma descoberta muito boa. Ela, sorrateiramente, baixou a alça direita do vestido, que escorregou até enroscar-se no bico duro da teta. Encurvei-me e, com os lábios, livrei o empecilho. Beijei o bico docinho. Encurvei-me mais um pouco e desci as mãos até a parte de trás de suas pernas, na altura dos joelhos, logo abaixo da barra da saia. Senti seus joelhos bambearem. As mãos subiram, levantando a saia. Senti suas pernas arrepiando-se. As mãos subiram mais. Não encontrando a barreira das calcinhas sentiram uma bunda macia e geladinha. Uma leve rebolada de Corinne ajudou-me a tocar seu sexo quente e úmido…
Foi com grande alegria que os três se conheceram. Por horas falaram de meu pai. Sentadas, mamãe e Gabrielle, não largavam as mãos uma da outra. Escutávamos encantados as aventuras de Jules e meu pai. Suas viagens, sufocos, corridas, falta de dinheiro, trapalhadas… Rimos muito. Contaram como viviam em Paris. O casal, infelizmente, não teve filhos. Contamos-lhes como foi a vida de papai por aqui, trabalhando como taxista e pescando diariamente. Contamos como ele conheceu mamãe, que então trabalhava na alfândega e o ajudou a desembaraçar o Lotus… O Lotus…
— Onde está o Eleven? Está aqui? — Monsieur Jules, aflito, perguntou do carro.
— Está, sim. E lá na garagem. Temos cuidado dele muito bem. Está perfeito e ainda corre pra valer! O senhor conheceu esse carro?
— Menino! Se eu conheci? Hahaa! Vamos lá vê-lo, meu rapaz! Vamos! — e foi saindo abruptamente pela porta afora, a ponto da Wahine começar a latir com o rabo entre as pernas, brava pelo susto.
Madame Gabrielle e mamãe nos seguiram. Abri a garagem. Jules aprumou-se com as mãos na cintura e inspirou fundo. Fui tirando a lona e o Eleven aparecendo. Jules coçou a cabeça e, vagarosamente, agachou-se defronte o carro, pois acho que as pernas lhe faltaram. Dava para escutar sua respiração. Agachado na ponta dos pés, apoiou no bico do capô dianteiro. Fez-lhe carinho. Sorria. Lágrimas lhe escorreram pela face. Dobrou a cabeça, olhando para o chão. Com a outra mão mexia no cabelo. Mamãe e Gabrielle estavam emocionadas e eu tinha um nó na garganta. As lembranças voltavam vivas a Jules; vivas e fortes. Lembranças de sua juventude, da amizade com meu pai, das emoções que viveram, das suas batalhas ao volante deste carro, das lutas e prazeres. O sumo de tudo isso se concentrava naquele belo e veloz Lotus Eleven, que, feliz por rever o velho amigo, sorria-lhe. Se o Eleven tivesse um rabo, estaria abanando, imaginei.
Controlei-me e agi rápido. Acabei de tirar a lona e a joguei em cima da Vespa.
— Então, Monsieur! Se é verdade que o conhece, faça o favor de ligá-lo, sim? — exclamei brincando, pra relaxar.
Jules levantou-se, pensou um pouquinho e foi ao pára-lama esquerdo. Com a mão esquerda, só no tato, achou a borboleta da chave-geral. Apertou-a. Olhou para mim. Sorriu. Deu um passo atrás e ficou ao lado da porta. Dobrou o corpo, pois o carro, como disse, é baixinho, e puxou a velha tira de couro que abre o fecho. A leve porta de alumínio destravou, convidando-o a entrar. Com um pouco de dificuldade, e umas poucas bufadas por causa da barriguinha, ele ajeitou-se no exíguo banco em concha. Deu uns tapinhas carinhosos no volante Ferrero, com aro de madeira, e empunhou-o. Sentiu os pedais, fez um punta-tacco, apertou o pedal da embreagem e simulou delicadas mudanças, experimentando as quatro marchas e ré. Deixou-o em ponto-morto. Fez um ar de aprovação. Ligou o interruptor do painel. A bomba elétrica fez tic, tic, tic. Olhou pra mim e disse: “Entra aí, rapaz!”, e apertou o botão do motor de arranque.
Mais que depressa o motor pegou: Vrruumm, vruumm! E eu, mais que depressa, dei a volta e entrei a seu lado.
O conta-giros estava oscilando levemente nas 2.000 rpm. O motor volta e meia pipocava, ia limpando e esquentava. Wahine latia, desesperada. Abri a porta e mandei ela entrar: “Vem cá!”, e bati a mão no colo. Ela pulou, lépida, latindo alegre. “Se quer ir, fique quieta!”, exclamei, e ela obedeceu, mas seu rabo agitado batia no alumínio fazendo barulho.
— Ela pode ir, não pode? — perguntei a Jules.
— Claro que pode, rapaz! Vambora!, ele respondeu. E, voltando-se para a esposa, disse: “Gabrielle! Já, já voltamos, meu bem. Já voltamos”.
— Não corra muito, Jules! Lembre-se que você e o carro não são mais tão jovens, hein! – ela observou.
Saímos devagarinho. Monsieur Jules, assim como faço, desviava de cada buraquinho do caminho de cascalho que vai de nossa casa até a estrada. São uns trezentos metros em cascalho. Enquanto isso, os ferros esquentavam, o óleo afinava, os carburadores limpavam. A tarde estava tranqüila. Chegamos à estradinha de asfalto. Ele me perguntou para que lado deveria virar. “Pra esquerda, para o lado do aeroporto, que é mais legal”, respondi.
— Com quantas libras estão os pneus? — perguntou.
— 23 na frente e 25 atrás — respondi.
— Tá bom! O carro é levinho. Nas corridas usávamos mais, mas, pr’aqui está bom. E que gasolina está usando?
— De avião. Consigo gasolina no aeroporto.
— Opa! Essa é da boa! — ele comemorou.
Viramos à esquerda. Monsieur Jules foi com calma. Delicado, trocava as marchas com suavidade e em giro baixo. Sentia o carro. Aos poucos foi aumentando a velocidade, aos poucos, quase imperceptivelmente. A cada curva freava mais tarde, curvava mais forte e acelerava mais cedo. O Lotus gostava, obedecia rápido, pedindo mais. Jules sorria. “O carro está ótimo! Parabéns, Charles! Parabéns! Tem só uns detalhezinhos que depois veremos, mas, no geral, está ótimo.”
— Está mesmo! Seu amigo foi quem me ensinou a cuidar dele — assenti.
A velocidade aumentava. Eu agarrava a Wahine cada vez mais forte por medo dela sair voando. Ajeitei-a ao meu lado para não me voar baba. Jean, compenetrado e tranqüilo, se transformava. Tirava do Eleven um desempenho que só meu pai eu vira tirar. Suas tocadas eram as mesmas. O jeito sem lutas de empunhar o volante, a delicadeza e precisão nas trocas de marcha, o jeito de com um leve toque no volante jogar a traseira para fora antes de adentrar numa curva e em seguida controlar contra-esterçando. E acelerava forte nas saídas de curva, nos fazendo grudar as costelas na lateral do banco duro. O limite de giros, a rapidez nas mudanças de marcha, o ponto exato da freada, a acelerada no momento certo; nem cedo demais, para não perder a traseira, nem tarde demais, para não perder tempo. Sem brusquidões e com naturalidade, o Lotus bailava em suas mãos. E assim conseguia ser rápido, muito rápido, e veloz como o vento.
Com o sol se pondo passamos as baías e, ao passar pelo aeroporto, ele diminuiu a velocidade. Deixou o carro correndo em ponto-morto, coisa que o Eleven faz indefinidamente, tal a fluidez de suas linhas, e foi olhando a pista. Murmurava “Hummm, bom…. huhumm, bem bom…” Deu-me um tapinha na perna — o que Wahine não gostou muito — e trouxe a alavanca de câmbio para a segunda marcha. Voltamos a disparar e seguimos assim passando pelas vilas de Teavaro, Vaiare, até chegarmos à de Afareaitu. Ali paramos para uma cerveja no bar caindo aos pedaços do Teahupoo, um pescador aposentado velho amigo de Papai. De lá, liguei para casa para avisar que iríamos nos demorar mais um pouco. Sentamos. Wahine sumiu para dar uma geral nas redondezas e logo voltou para deitar-se aos meus pés.
Monsieur, com a testa marejada de suor, tomou seu primeiro gole da cerveja gelada, um bem longo, e depositou o copo na mesa. Com um bigodinho de espuma no lábio superior, abriu a conversa.
— Meu rapaz, vou lhe fazer uma proposta e creio que não haverá recusa.
— Pois não.
— Indo direto ao ponto: que tal levarmos seu Lotus para a Nova Zelândia e fazermos, nós dois, uma dupla nas corridas dos clássicos?
— Mas… não sou piloto… e não tenho grana para isso… Eu adoraria, é um sonho, mas, há essas barreiras que não sei como…
— Calma! Já pensei em tudo e tenho solução. Grana, para começar, não me falta, portanto, pago tudo; transporte do carro, suas despesas etc. Se o carro quebrar, me encarrego do conserto. E o fato de você não ser piloto a gente resolve treinando na pista do aeroporto. Te ensino. Já vi que você leva jeito, não se preocupe, teremos tempo para isso. Você tem amigos no aeroporto? Consegue a pista pra gente treinar em certos horários? É um lugar genial para te ensinar e acertar o carro.
— Ulalá!!! Monsieur!! Assim está clareando! Mas fico meio sem jeito do senhor gastar dinheiro comigo…
— Mas que história é essa de gastar com você? Você já está entrando com o mais importante, que é o carro, não se esqueça disso, e saiba de uma coisa, meu rapaz, devo muito a seu pai, portanto, não me negue esse prazer. OK? E o aeroporto? Como é? Consegue?
— Tenho amigos lá, sim. Acho que consigo umas brechas pra gente. O senhor acha mesmo que dou conta do recado? — perguntei.
— Dá, sim! Sou um macaco velho e já vi que você herdou de seu pai os atributos naturais de um bom piloto. Além do mais, tenho certeza que o surfe que você pratica desde criança desenvolve as mesmas áreas do cérebro necessárias para a pilotagem. Equilíbrio, decisões rápidas, noção das forças agindo, fluidez, essas coisas, além, é claro, do bom preparo físico, coisa que me falta, mas que compensarei com a experiência.
— Acha mesmo? — perguntei, mas já convencido.
— Deixe comigo que te ensino os macetes. E não se preocupe, que a coisa não é tão feia assim, pois a prova é um rali de regularidade. Haverá também uma corrida num circuito. Você pilota no rali e eu na pista, onde o bicho pega mesmo. Temos tudo para ganhar com esse Eleven. Ele é perfeito para as provas. O rali parte de Auckland e vai a Wellington, onde haverá a corrida. São quinhentas milhas de rali de regularidade – oitocentos quilômetros. O asfalto, já me informaram, está perfeito. Apesar de ser um rali de regularidade, lá teremos longos trechos planos onde de vez em quando vamos fazer este carro correr como há tempos não corre. Lá ele vai poder esticar as pernas. Aqui nesta ilha não há espaço para ele – Jules afirmou.
— Também acho. Nunca cheguei à final do carro. O máximo que dei foi no Taiti, onde tem retas mais longas. Lá cheguei a 180 km/h e ainda tinha muita lenha pra queimar, certamente — eu disse.
— Pois é. Um Eleven com preparação igualzinha a este e com Stirling Moss ao volante virou a pista de Monza numa média de 230 quilômetros por hora. Isso foi em 1956, isso mesmo, em 56.
— 230 de média! Mon Dieu! Ele voa mesmo, então! — exclamei.
— Se voa! Mas não esqueça que o traçado de Monza era bem menos travado que hoje, sem chicanes bestas. E quem desenhou a carroceria foi Frank Costin, um excelente engenheiro aeronáutico, e ele sabia muito bem o que fazia. Seu coeficiente aerodinâmico é baixíssimo. Um perfeito streamliner. Olhe, resumindo, este é o melhor carro de cilindrada baixa e com motor dianteiro já feito, o mais vencedor. Só no ano de 1956 os Eleven conquistaram 148 vitórias.
— É mesmo? Papai não falava muito do carro. Acho que eu era muito menino e só pensava em pegar onda e não dava muita bola pro Lotus. Depois que ele morreu é que eu fui dando mais valor ao carro, acho que em parte para sentir o cheiro do meu pai, pois volta e meia ele vinha com o cheiro do carro por estar mexendo nele. Depois, pesquisando, é que fui sabendo o que o Eleven representava — contei. Lembro do meu pai dizer que o Eleven foi o carro que fez a Lotus decolar, tanto é que depois dele todos os modelos da marca têm nomes que lembram o Eleven, por exemplo: Elan, Elise. Não é?
— Seu pai tinha razão. O Eleven colocou a Lotus no topo. O Colin acertou na mosca com esse carro. Até hoje seus tempos são incríveis e, pra começar, em 1956 ele venceu Le Mans em sua classe, a de 751 a 1.100 cm³. No ano seguinte, em 1957, pegou 1o e 2o e 4o na classe. E além dos de 1.100 cm³, alguns Eleven entraram usando motores com cilindrada menor que 750 cm³ e com um deles venceram o Índice de Performance. Ah! E nesse mesmo ano, um com motor 1100 ganhou em sua classe a 12 Horas de Sebring, nos EUA, outra prova das mais importantes.
— Isso eu já fiquei sabendo. E vocês? Estavam nalguma dessas?
— Sim, em 57 estávamos em Le Mans, mas não papamos nada, pois quebramos motor. Na 1000 Quilômetros de Nürburgring, quebramos suspensão dianteira. Foi uma pena, pois nas duas estávamos indo bem e chegamos até a liderar na classe. Sebring não fomos, já que não tínhamos dinheiro para atravessar o Atlântico — Jules disse, mostrando-se meio inconformado ainda hoje.
— E a suspensão é ótima, não é? — eu perguntei, pois sabia dessas quebras que tiveram e queria mudar de assunto para ele não ficar chateado.
— Se é! Isso é obra de Colin Chapman, e esse camarada era terrível. Sabia tudo sobre carros de corrida, o inglês unha de fome. Duplo “A” na dianteira e De Dion atrás. O seu usa De Dion porque é de corridas, mas muitos saíam com eixo rígido atrás, para ficar mais barato.
— De Dion é muito melhor, não é?
— Muito. Com ela tiramos o peso do diferencial, que passa a ficar preso ao chassi. Isso alivia peso não-suspenso e a suspensão pode trabalhar numa freqüência muito maior, firmando os pneus mais tempo no chão quando pegamos irregularidades no piso.
— E a dianteira? O Duplo “A” — perguntei.
— O duplo “A” é a que trabalha melhor. Até hoje ela é usada em carros de corrida e nos bons carros esporte. No caso dos Lotus elas são levíssimas. Dizem que o lascado do Chapman fazia assim: Ia afinando as barras e as testando na pista, fazendo-as cada vez mais leves. Ia afinando, afinando, até que uma quebrasse num teste. Quando uma quebrava, ele usava a penúltima, entendeu? A última que havia agüentado. Esse era seu método de tentativa e erro.
— Puxa! Meio perigoso, não é? — concluí.
— Pois é. Não era mole pilotar para a Lotus. Era para os mais ousados, que não tinham muito amor à própria pele, e desejosos de vencer. A estrutura do chassi era fina como uma gaiola. Um fracote qualquer ergue com uma só mão o chassi do seu Eleven. Há foto do Chapman fazendo isso. Os carros estavam sempre no limite da resistência, porém, quando não quebravam, ganhavam.
— Mas vocês não pilotaram para a Lotus, não?
— Não, não. Não para a fábrica. O carro era nosso. Na verdade, era do seu pai. Eu era um duro. Ele entrava bancando com o pouco que tinha e eu entrava trabalhando como mecânico e chefe da equipe que era só eu mesmo. Por isso é que conheço esse carro a fundo. Acho que a maioria desses parafusos que estão apertados aí foram apertados por mim. E a propósito, você ainda tem o tonneau cover de corridas?
— Tenho sim! Está no fundo da garagem envolto por um cobertor velho. O senhor não viu, mas está lá. Mas, voltando ao assunto, que paixão, hein! — suspirei.
— Paixão? Hufff! Éramos loucos, isso sim! Ah! Monsieur! S’il vous plaît!, mais uma cerveja, por favor! — ele pediu. E você, meu rapaz, você guia na volta que vou beber a vontade agora; pra comemorar.
E foi assim que combinamos nossa aventura. Ele, de fato, naquele fim de tarde, bebeu bem. Voltou zonzo com a Wahine no colo e tomou lá umas lambidas carinhosas no rosto. É incrível como a Wahine é feminina…
Com Dalila o começo não foi tão lento como com Corinne. Foi bem mais rápido. Pelo que vejo na televisão e leio nos livros, em outros lugares do mundo o modo como começam o namoro é, normalmente, mais enrolado, complicado, travado. Aqui, não sei se é devido ao clima, se é devido ao ambiente, se é pelo tipo de pessoas que para aqui são atraídas; mas há pouca embromação para iniciarmos um romance.
Conheci-a há uns seis meses. Eu vinha na minha velha Vespa 150 e, quando passei perto do porto, vi Dalila. Ela, com uma mochila às costas, pedia carona. Na certa acabara de chegar de ferry boat. Parei, perguntei para onde ia. Ela disse. Ofereci carona e ela topou. Montou e fomos. Pouco papo. Eu estava sem camisa. Vestia só minha bermuda puída. Ela, de shortinho e camisetinha sem sutiã. Assim estava gostoso. Dali a pouco, com a oscilação das curvas, ela, sossegadamente, achegou-se mais. Descansou o rosto no meu ombro e encostou os peitões nas minhas costas. Quando senti aqueles peitos foi involuntário meu volume corporal aumentar, o que foi prontamente percebido e incentivado pelas sábias mãos daquela italianinha decidida.
Conheço bem as praias desertas da ilha. Uma canoa de fundo liso, sob os coqueiros, veio bem a calhar.
Bom… por aqui é assim. E não vejo razão para mudar.
Monsieur e madame Maigret passaram a vir em casa todos os dias. Emprestei-lhes minha Vespa 150 e antes de anoitecer eles já chegavam. Madame e mamãe cuidavam dos vasos de bonsai de mamãe e faziam muitas coisas, além do nosso jantar, porque mulher sempre tem muitas coisas pra fazer. Jules e eu mexíamos no carro. Na verdade, Jules mexia e eu olhava, aprendendo, só ajudando na hora de fazer força, e dando um reaperto geral em tudo quanto é porca e parafuso que via pela frente. Primeiro ele acertou o motor. Limpou os carburadores SU, trocou óleos de motor e câmbio, filtros, velas, regulou válvulas, tirou pequenos vazamentos e colocou-o no ponto. O motor passou a virar mais suave, com marcha-lenta mais serena e com tremenda prontidão na aceleração. Ficou o fino, mas não saímos para rodar. Depois, trocou fluido de freio, acertou cambagem, cáster, convergência, caixa de direção. Verificou se havia rachaduras ou ferrugem no chassi. Tudo OK.
Jules, todas as tardes, treinava nadando na laguna. Disse que para os mais idosos exercitar-se muito cedo não faz bem. Pode dar um piripaque. Por telefone, encomendou da Inglaterra o envio para a Nova Zelândia de pastilhas de freio, molas, amortecedores e pneus, os quais trocaríamos assim que chegássemos a Auckland. Também por telefone dispensou o Alpine 1600 S que correria com a esposa, inscreveu-nos com o Lotus Eleven e acertou os pormenores da corrida.
Pelo visto, saquei quem é que fazia a roda virar na dupla Fred & Jules. Papai, do jeito desencanado dele, esquecido e poeta, provavelmente era enxotado da oficina… E eu aqui, escrevendo sobre meu pai, lembro e sinto uma falta danada do seu abraço forte e envolvente. Que saudade…
Trabalhávamos até tarde da noite, o que levantou suspeitas nas minhas namoradas de que haveria uma “terceira” na parada. Resolvi o caso trazendo-as em casa, obviamente, uma em cada noite. Assim viram que a coisa era séria.
Em dez dias o carro estava nos trinques. Tínhamos mais dez dias para treinar e afinar regulagens. Fomos ao aeroporto logo pela manhã, bem cedinho. Jules foi guiando o Lotus e eu o Peugeot 405. Uma manhã ensolarada.
Fincamos um guarda-sol no gramado na beira da pista e arranjamos uns cones com os quais demarcamos um circuito. Desse modo poderíamos cronometrar nossos tempos. Foi juntando gente, mecânicos, guardinhas, taxistas, crianças, pilotos. Por aqui, desocupados e curiosos é o que não falta.
Formamos uma reta de mais ou menos um quilômetro. Ela terminava numa curva, à esquerda, de alta velocidade. Essa curva, traiçoeiramente, ia diminuindo seu raio e, em seguida, de maneira abrupta, vinha uma curva fechada à direita. Isso nos obrigaria a frear forte justo no ponto onde o carro trocaria de apoio, quando o carro, antes apoiado sobre o lado direito, estaria aliviando-se para em seguida apoiar sobre o lado esquerdo. Tinhoso esse Jules, tinhoso…
Dessa curva fechada à direita, que deveríamos fazer em segunda marcha, logo tínhamos um cotovelo à esquerda, de 180 graus, e este desembocava numa retinha paralela e em sentido oposto ao retão. Essa retinha passaria beirando o guarda-sol e nela chegaríamos a colocar a quarta. Em seguida viria o esse, que seria feito em terceira. Do esse viria um curvão aberto à esquerda e este desembocaria no retão.
Circuito simples, mas tinhoso.
Pegando o capacete e as luvas, monsieur propôs:
— Charles, é melhor que façamos assim: primeiramente sairei sozinho para umas voltas, para sentir a coisa. Depois você monta ao lado. Depois, você guia. Está bem?
— O senhor é quem manda! — concordei.
Ele colocou um velho capacete aberto, azul e branco e todo lanhado, e saiu devagarinho, sem alardes. Uma volta. Duas voltas. E nada dele acelerar. Parecia passeando. Meus colegas taxistas já foram comentando: “Hehe! O velhote esqueceu de levar a bengala!”… “E aí, Charles! Precisa dar uma gemada pra ele!”, essas besteiras. Na terceira volta ele andou um pouco mais forte e aí, para abrir a quarta volta, de uma hora pra outra, pareceu que deu a louca no homem, porque passou rente a nós como um foguete, e tão no cacete que achei que ele não teria espaço para frear para fazer o esse. Porém, sei lá como ele conseguiu e entrou no esse desembestado, fez o esse cantando pneus e, já de longe vi que curvava de lado a curva que antecede o retão e saía lançado como uma pedra de bodoque para iniciar a reta. Passou feito um tiro pelo retão, zóóómmm… e, também de longe, escutamos pneus cantando na curvona tinhosa. Dobrou à direita depois de trocar de apoio e em seguida fez de lado a curva à esquerda de 180o e, ao beirar a grama do lado de fora da curva o carro já estava alinhado com a retinha do guarda-sol. Passou por nós como o vento de um furacão… ZZOOUFFF!!! e o guarda-sol entortou e quase voou.
Fiquei tão impressionado, com boca aberta, tão estático, que esqueci de parar o cronômetro. Estava basbaque.
Ficamos em silêncio. Em seguida, escutei murmúrios. A platéia estava chocada, meio quieta, porém, quando ele terminou o esse de modo ainda mais forte que da última vez e curvou cantando pneus a curva que antecede o retão, o pessoal entrou em delírio. Eram gritos e uivos. Criançada dando pinotes, pilotos dando vivas, coisas voando pelos ares, taxistas e mecânicos se abraçando e pulando. Um sujeito dando gritos e babando enquanto fincava com todas suas forças o guarda-sol no chão. Loucura geral!!!
E eu ainda quieto e lá pensando… “Madonna mia! Como é que eu vou conseguir fazer uma coisa dessas? Como? Madonna!”
Jules, após mais uma volta forte, maneirou, fez uma volta devagar, na certa para esfriar os freios, e parou em frente ao guarda-sol. Vrrumm, vruumm, tiizzz… Desligou o motor, tirou o capacete e perguntou:
— E aí, meu rapaz! Gostou do seu carro?
— Eu, eu… — foi só o que pude responder.
Foi um amontôo de gente em volta do Eleven. Tapinhas nos ombros de Jules, gente ajudando-o a destravar o cinto, abrindo a porta, abraçando-o. Todos, um a um, fazendo questão de cumprimentá-lo. Festa geral.
— Temos uns acertos para fazer no carro. Porém agora, sem pneus certos, pastilhas de freio, molas e amortecedores novos, não há muito o que fazer. Mas estou contente com o motor, que está rendendo como em seus melhores dias. A pista é boa e aqui vamos treinar a contento. E aí? Bom, né? — ele comemorou.
— Jules! Monsieur! Você é demais! — exultei, e dei-lhe um abraço apertado.
— Vamos, vamos, Charles! Agora suba no carro que você vai ao meu lado para pegar o traçado.
— Oui, oui! — e fui colocando o capacete e pulando para o banco do carona.
Foi fenomenal. O homem é um artista, um virtuose. Nas primeiras duas voltas, enquanto pilotava, foi passeando e mostrando os pontos de referência. Ensinou-me o traçado certo, os pontos de freada, o modo certo de encarar uma sucessão de curvas, sempre sacrificando a saída da primeira curva, não deixando o carro esparramar pra fora, para poder fazer a tomada da segunda curva em posição correta e assim entrar mais rápido na reta subseqüente. Ensinou-me ter suavidade ao volante, evitando brigas e a conseqüente perda de aderência. Em seguida passou a aumentar a velocidade. Ensinou-me a não esgoelar o motor, para não forçá-lo inutilmente, a frear forte sem travar, a cambiar rápido e assim por diante.
Quando dei por mim estávamos numa velocidade absurda e Monsieur Jules continuava calmo e controlado, tomando sempre as mesmas atitudes nos mesmos pontos da pista. Um relógio suíço. Uma volta era o replay da outra.
— Bem, meu rapaz! Agora é sua vez! — exclamou, me dando o costumeiro tapa ardido na perna.
— Seja o que Deus quiser! Vamos lá! — encarei, mas ainda meio cabreiro, por medo de não estar à altura.
Paramos no guarda-sol e trocamos de lugar.
Puxei o banco para trás, pois sou uns quinze centímetros mais alto que Jules, e, pacientemente, escutei a gozação dos meus amigos enquanto ligava o Coventry-Climax. Eu não o havia guiado depois da geral dada por Jules. O pedal do acelerador estava mais leve e motor respondia mais prontamente. Marcha-lenta mais tranqüila, oscilando menos, apesar do comando forte. Pedal da embreagem também mais leve, a ponto de eu perguntar ao Jules se era para ser assim mesmo. Engatei primeira. Senti a alavanquinha de câmbio com engates mais justos e precisos. Saímos.
Fiz o esse e entrei meio fortinho na curva que antecede o retão. Jules pediu que eu desse ao menos três voltas bem maneiro. Obedeci e baixei o trem. Demos mais duas voltas e ele foi-me explicando tudo de novo. Mandou então andar mais forte, mas não no gás total. Obedeci. Percebi que fazendo o traçado a seu modo eu tinha o carro muito mais na mão e sempre em situação de equilíbrio. Eu estava adorando, e quis acelerar ainda mais forte. Jules pediu calma e mandou-me voltar a andar bem devagar. Diminuí e, em seguida, em cada ponto, ele foi mostrando meus erros; erros que, por sinal, eu não havia percebido. Mandou andar forte de novo. Acelerei, procurando fazer conforme o figurino e a partir de então as coisas ficaram ainda mais fáceis. Em seguida ele pediu para deixá-lo ao pé do guarda-sol e mandou-me continuar, mas enfatizou para que eu não desse tudo o que achasse que podia, para eu deixar uma reserva. Ele ficou tomando um suco sob a sombra e eu dei mais umas dez voltas, até que recebi seu sinal para parar. Dei uma volta sem pisar no freio, para esfriá-los, e parei.
— Ótimo, Charles! Ótimo! Você vai indo muito bem, parabéns! — Jules comemorou.
— Obrigado, Jules! Acha mesmo?
— Vamos ganhar essa corrida! Vamos, sim! Você é bom; só lhe falta uma lapidação — afirmou.
— Obrigado. Fico muito contente que ache isso — agradeci, olhando de soslaio, orgulhoso, para meus amigos em redor.
Nossos amigos tiraram os cones e Jules e eu levamos o Lotus para um hangar. Jules disse que iria trabalhar no carro e que eu poderia ir embora. Ele deixaria o carro ali e depois voltaria de táxi para o hotel. E assim fizemos. Fui trabalhar. Ele, como mais tarde fiquei sabendo, foi dirigindo um táxi velho até o hotel, pois o taxista se disse envergonhado demais para dirigir a seu lado…
E essa foi mais ou menos a nossa rotina nos seguintes dez dias, afora que uma vez trouxemos o tonneau cover para ver se ainda ajustava bem. Com troca das travas por novas, ajustou. Jules ficou com a Vespa 150 e nadava toda santa tarde. Ao final, nós três estávamos nas pontas dos cascos. Jules melhorara muito seu preparo físico, o Eleven azeitado e pronto para a corrida, e eu confiante no que fazia.
Embarcamos o carro num vôo cargueiro e pegamos o nosso para Auckland. Madame resolveu ficar com mamãe, pois monsieur já estaria acompanhado e ela estava adorando o Taiti, daí que usei suas passagens.
Apesar de estarmos no verão, as noites eram frias em Auckland. Fortes correntes marinhas vindas da Antártica envolvem as ilhas neozelandesas e esfriam o ambiente. As mulheres são bem fraquinhas.
Trocamos molas, amortecedores, pastilhas de freio, pneus. Tudo novo. Testamos o carro à noite numa estrada da região. Nunca passei tanto frio na vida. Jules comprou-me, então, um casaco de couro forrado com lã; casaco que, creio, nunca mais usarei. Havia os de nylon, mais baratos e bem quentes, porém, Jules disse que em caso de fogo seriam perigosos.
A colocação do rali seria somada à da corrida e o resultado seria dividido por dois. Eu pilotaria no rali. Jules ficaria como co-piloto no rali, devido à sua experiência com cronometragem e planilhas. A corrida seria com ele, obviamente. Muitos carros, quarenta ao todo, e vindos do mundo inteiro. A maioria era das décadas de 1950 e 1960. Ferrari Testarossa 1958, Ford GT 40, Maserati 300 S, Aston Martin DBR 1/300, Mercedes Gullwing, Porsche 550, Jaguar D-type, Jaguar XK 120 e por aí ia. Só magnata. Jules inventou que eu era rei de uma ilha da Polinésia e passei a ser o único rei dentre eles. Que assim seja, oras.
Passamos no exame de originalidade. Largamos às sete e quinze da manhã. A velocidade média variava de acordo com as estradas. Para pista dupla era de 100 km/h e, para pista simples, de 75 km/h. Tudo tranqüilo. O objetivo era testar a resistência do carro em longos trajetos, o que evidenciaria o bom estado de sua mecânica.
Pastos verdes, vacas leiteiras gordas, carneiros fofinhos, cavalos de pelo brilhante, gente saudável e corada. Pena o frio e a mulherada sem graça. Nos trechos calmos, enquanto dirigia, vinham as saudades, e elas me faziam sentir nos flancos as coxas quentes de Corinne, e no rosto, os peitões macios de Dalila. Algum ponto do meu cérebro guardava vivo os cheiros dessas coxas e desses peitos, fazendo-os impregnarem deliciosamente meu olfato.
Eu estava indo bem. Na verdade, muito bem, segundo monsieur. Conseguia ir rápido e sem forçar. Mesmo em giro baixo conseguia manter a regularidade desejada. Passamos Hamilton e New Plymouth, e próxima cidade seria Opunake, que fica no Cabo Egmont. Esse cabo divide o Estreito de Cook do Mar da Tasmânia, mar que fica entre a Nova Zelândia e a Austrália. Estava fácil e já havíamos rodado quase metade do rali, até que comecei a sentir a direção puxando para o lado direito.
— Xiii! Jules! Temos um pneu murchando. É o direito da frente – avisei.
— Melhor parar.
— Estou parando.
Paramos, descemos e corremos a trocar. Nesse ínterim, enquanto eu me agachava para apertar as porcas, um Alfa Duetto amarelinho, com a capota baixada, nos passou rapidinho e buzinando. Um coroa grisalho pilotando, com uma moça lindoca ao lado. Gatinha. Muito gatinha e sorridente. Vi que a placa era da Itália.
Acelerei o trabalho e partimos a toda, para recuperar os cinco minutos perdidos. Tempo até que pequeno. Mandei a lenha. Logo pegamos um trecho escarpado de serra à beira-mar. Nossa sombra, às vezes, corria sobre o mar à nossa direita. Vi a traseira do Alfinha amarelo, que aparecia e sumia nas curvas. Acelerei, caprichei e encostei. Esperava uma brecha para papá-lo. Ele quis brincar, acelerou e não dava moleza para eu passar. Não achei muito legal de sua parte, pois, afinal, era um rali de “cavalheiros” e não havia nada de mais um passar o outro, e comentei com Jules: “Audácia do cara! Que é que ele está querendo? Disputar com um Eleven? Esse Alfa não dá nem pro espicho!” Ao que ele respondeu: “Italianos costumam perder fácil o espírito esportivo. Não gostam de ficar para trás de jeito nenhum. Mas esse vai é tomar um chapéu dos bons, isso sim. Manda bala que eu também me invoquei!” Numa subida com curva à esquerda, e onde havia três faixas – uma descendo e duas subindo –, botei o Eleven por fora e fui passando, enquanto tomava cuidado com as escorregadelas da traseira do Alfa, que estava no limite da aderência. Já o Eleven portava-se firme e agarradinho. Ao emparelhar olhei pra gatinha, que de rabo de olho nos observava. Cabelos castanho-claros amarrados num rabo-de-cavalo, óculos escuros modelo gatinho. Ainda acenei e fui acertando o carro, trocando de apoio, para pegar a curva seguinte à direita, por dentro, sem deixar reação ao Alfa. Fiz a curva, tomei a frente e fui despachando. Mais umas duas curvas e começaríamos a descer, pois estávamos perto do tope. Mal percebi, quando numa retinha que antecedia a próxima curva à direita, um Ferrari Testarossa vermelho, 1958, veio babando por fora e me jantou. Achei meio humilhante e parti atrás do Testarossa. No trecho sinuoso e em descida que viria, eu teria chances de, ao menos, encher o saco do sujeito…
Jules divertia-se.
— Vá na caça desse cara! Vá! – ele botou fogo.
Acelerei tudo e, ai Meu Deus! Como estava andando o Lotus! Ainda mais quando começou a descida! Uma barbaridade! A coisa estava de gelar o estômago, pois correr forte em descida é crítico. Mas nessas horas a adrenalina crescente encarrega-se de esquentar o sangue e consegui que o Testarossa não sumisse adiante. Depois, com calma, fui encostando. Já dava para ouvir os gritos do doze-cilindros e ver a fumacinha dos dois escapes assim que ele voltava a acelerar depois de uma reduzida. Guiava pra cacete o cara do Ferrari. Nas retinhas ele me despachava e nas curvas eu colava. Meu carro curvava melhor e freava mais ainda, então eu deixava para frear bem depois dele para colar na sua traseira. Nisso, Jules, aos gritos, orientou: “Vá pressionando, vá! Não dê folga! Os freios desse Testarossa são a tambor. Daqui a pouco eles superaquecem e vão começar a perder ação. Aí será a nossa hora de aproveitar estes Girling. Além dos freios serem a disco, nosso carro é muito mais leve, o que força menos os freios. Não dê folga pra ele, não! Pressione-o nas freadas!”
Foi o que fiz e em breve as previsões de Jules se confirmaram. Notei que o Ferrari começava a frear cada vez mais cedo, mais distante das curvas, e numa das curvas à direita, aproveitei e deixei para frear no último gole, mergulhando por dentro, com duas rodas no acostamento asfaltado e agüentei a mão. Forçando passagem, consegui passá-lo. Passei e fui abrindo, mas para isso tive que continuar a andar no máximo, porque ele não me perdia de vista. E assim fomos num zip, zap danado de forte e gostoso até que chegamos ao fim da serra. Assim que chegamos ao sopé, uma planura com um retão bem desgraçadamente reto descortinou-se à nossa frente. Olhei triste para Jules e ele ergueu os ombros e as sobrancelhas, como que dizendo: “Fazer o quê? Paciência” Pois é, não havia nada a fazer e, mesmo eu mantendo o pé no talo, em poucos segundos o Testarossa passou feito um trem, urrando e jogando uma quinta marcha bem nos nossos ouvidos. Como andava aquele ordinário! Como andava e roncava lindo! Placa da Itália, também. Puta que o pariu! Eu estava a duzentos e vinte e ele sumia adiante como se eu estivesse parado.
Concentrado e triste, vendo aquele ponto vermelho diminuir na longa e afunilada reta, escuto os gritos de Jules misturados com o turbilhão de vento:
— Esse aí não está com o câmbio original! O original só tinha quatro marchas.
— É, é? E pode isso? — perguntei.
— Na verdade, não sei se as regras permitem, mas, deixe pra lá. É uma bela máquina, não é?
— Terrível e implacavelmente linda! Olhe só! Está sumindo!…
Após os rachas resolvemos maneirar e voltar ao ritmo de rali, senão perderíamos pontos. Além disso, tínhamos ainda uns bons trezentos quilômetros à frente, e em seguida a corrida. Continuar forçando seria maltratar nosso bichinho. Maneiramos e baixamos o giro.
Pelo retrovisor vejo um ponto amarelo. Era o Alfa. Fiquei na minha e deixei-o passar. Enquanto era ultrapassado, olhei para a gatinha italianinha. Ela, dando risada, mandou um tchauzinho. Mandei-lhe um baccio. Se fosse filha do coroa, tudo bem. Se fosse caso do coroa, ele que agüentasse. Afinal, quem mandou ele dar uma de garotão? Que agüentasse.
E seguimos tranqüilos, passando por Wanganui, onde reabastecemos, depois Palmerston North e chegamos a Wellington ao cair da noite. Nove horas de estrada. Estávamos cansados. Ficaríamos todos num mesmo hotel grandão.
Guardar o carro, tomar um banho reanimador e restaurar forças com um jantar regado a vinho da terra. Jules não gostou do vinho e tomou cerveja. Conheci alguns de seus amigos. Caras legais que gostavam de me dar tapas nas costas. Era uma sexta-feira e a corrida seria no domingo, portanto, tínhamos sábado para mexer no carro, consertar pneu, trocar óleo, essas coisas, além de conhecer a pista.
Após o jantar, deixei Jules com seus amigos e, obviamente, saí à procura da italianinha. Fiz a busca por mais ou menos meia hora, e nada. Nada de encontrar a italianinha, nada. Vi o coroa do Alfa Duetto. Pensei um pouco e decidi chegar no sujeito para comentarmos nossa brincadeira e daí, então, como quem não quer nada, conseguir informações valiosas a respeito da mocinha. Fui.
— E aí, “Senhor Alfa”! Belo pega o nosso, não foi? — comentei, num tom alegre.
— Pois é, Senhor Lotus. Pena meu carro estar falhando naquela subida de serra, senão a briga seria melhor — ele respondeu.
— Falhando? Não me pareceu falhar. Enquanto emparelhava achei o ronco do seu carro bem saudável até…
— Que nada! Estava falhando, mesmo. Não fosse isso você não me passaria nunca — ele provocou. Pretensão sua achar que ganharia de mim e…
— Olha, para dizer a verdade, seu carro estava rendendo muito bem e, falhando ou não o que faltou foi uma pilotagem mais refinada de sua parte. Você deveria estar dirigindo um caminhão, isso sim! — parti logo pra estupidez, já que era assim que ele se fazia entender, me chamando de pretensioso.
— Oras! Vá lamber sabão!
— Vá escovar os dentes! Seu boca-de-lodo! — e virei as costas e me mandei, já que não ia me pegar a socos com um coroa.
Pelas costas ainda ouvi: “Vamos nos ver na pista! Vamos nos ver!”
Sem me virar, mandei-lhe uma banana, uma pernacchia — num belo gesto napolitano. Mal sabia ele quem estaria ao volante do Eleven. Mal sabia ele…
De qualquer modo, nessa conversa me ferrei. “Se ele for o pai, o meu romance já era” — constatei. E, além do mais, não descobri nada!
Acordamos cedo. Jules estava meio alquebrado. Ele não reclamava, mas percebia-se que sentia dores nas costas, mesmo assim começamos a trabalhar logo cedo. Fui consertar o pneu enquanto Jules trocava o óleo e acertava em sintonia fina o ponto e a mistura. Trocou as velas por mais frias e verificou os freios. Tudo OK, a tarde ficou para um cochilo e conhecimento da pista.
Tarde nublada, mas não muito fria. Fomos com o Lotus, pois o autódromo era pertinho do hotel. No caminho, aumentamos a pressão nos pneus. Jules tinha o direito de rodar por uma hora pelo circuito. Circuito novo, com quatro quilômetros de extensão, boas áreas de escape e plano, totalmente plano. Achei meio monótono, pois gosto de subidas e descidas, já que elas criam mais fatores a serem ponderados pelo piloto, mesmo assim tinha curvas de vários raios e era desafiadora.
A corrida teria vinte voltas.
Vi, dentre os belos carros que corriam pela pista, o Alfa amarelo. O piloto estava só. Jules colocou seu velho capacete azul e branco e foi para a pista. “Vou só passear, meu rapaz”, ele disse, e saiu. Esperei-o passar na reta em frente os boxes, mas, quando dei por mim, ele entrava no pit lane. “Xii!”, pensei, “Que será que está errado?” Ele veio, parou, e abaixei-me para ouvi-lo. Ele baixou a balaclava e disse, sorrindo: “Charles. Vi uma italianinha bem bonitinha sentada na mureta ali adiante, num dos últimos boxes…” E engatou primeira e sem falar mais nada voltou para a pista.
Entendi o recado e fui à caça. A vi sentada na mureta. Óculos escuros gatinho, cabelos soltos, carregava cronômetros e uma prancheta, onde, compenetrada, anotava.
Fui chegando e dei-lhe um “Tchau bambina! Como está?”, e sentei-me ao seu lado. Ela, simpática, mas meio ressabiada, “Tchau, Signore Lotus!”
Falei-lhe em francês, na esperança dela falar minha língua.
— Tchau, bambina! Que está fazendo? — perguntei, em francês.
Ela falava francês.
— Estou cronometrando meu pai e, para seu controle, ele não gostou muito de você, não — ela respondeu, na lata.
— Que bom!
— Como assim, “bom”?
— Bom é que ele é seu pai. Se fosse seu amigo seria ruim. Só isso.
— Ah! — e ela sorriu, virando o rosto de lado e prendendo o cabelo atrás de orelhinhas bem desenhadas.
— Você sorri tão bonito. Estou te procurando desde que nos passaram na estrada. Finalmente a achei e estou muito feliz agora.
— Feliz, é? — ela perguntou, com ar jocoso de esperta.
— Muito. Vê-la sorrindo me deixa feliz.
— Vocês pegaram terceiro no rali, não foi? — ela comentou.
— Pois é. Pegamos. Vocês correram muito. Exageraram.
— Meu pai é assim mesmo. Por isso é que nunca ganha nada. Ficamos lá atrás. Mas é divertido. Papai é assim, e ele quer torcer o seu pescoço. Disse que você é uma besta, um estúpido, que vocês bateram boca — e ela tirou os óculos escuros.
Vi olhos cor de mel, encantadores. Fiquei sem resposta. Esqueci tudo. Fiquei feito bobo, boquiaberto, com o olhar perdido naqueles olhos.
— Você está com pedaços de bolacha nos dentes — ela disse.
— O quê? — acordei.
— Bolacha nos dentes. Você está com bolacha nos dentes. Precisa escovar — ela confirmou.
Que vergonha! E eu deveria estar mesmo, pois estive comendo uns biscoitos caseiros neozelandeses deliciosos. Com isso ela me pegara, dando o troco pelo que eu falara a seu pai, mandando-o escovar os dentes, “boca-de-lodo”… “Ai, ai, ai… ela deve estar brava comigo” — concluí.
— Vamos tomar uma água e um café? Assim vou ao toalete e tiro esse troço — convidei, dando uma de desentendido.
— O quê disse? Tem muito barulho, não ouvi! — ela gritou, enquanto passavam dois Ferrari, o Testarossa e um 315 S, engalfinhando-se com um decidido Maserati 300 S.
— Vamos tomar alguma coisa? — também gritei.
— Vá você. Tenho que pegar os tempos do meu pai — ela falou, agora mais baixo, pois o grupo já havia passado e disputavam ferrenhamente a freada no fim da reta. Uma fumaceira de pneus saía das travadas.
— Você me espera aqui? — perguntei.
— Vamos ver, reizinho.
— Mentira esse papo de rei. Depois te falo. Então vou correndo e volto já — eu disse.
— Tá bom. Vá, reizinho.
Saí à toda. Corri pulando por cima de pneus, galões de gasolina, caixa de ferramentas, pernas de mecânico deitado debaixo de carro e entrei numa tal vulada pela porta do banheiro que dei de peito com um gordão suado ajeitando as calças e ele me deu uma bronca e eu me desculpei falando “Pânico, Pânico!”, mas ficou chato assim mesmo e arrumei mais um inimigo que foi embora me xingando. Defronte a pia, olhei no espelho arreganhando os dentes e, nada! Tudo limpinho! Malandra ela! Me pegou direitinho!
Já que estava sobre a pia, bochechei tão rápido que escorreu água pela camisa e voltei correndo para os boxes. Pulei mecânico, galão de gasolina, caixa de ferramentas, pneus e quando estou chegando perto dos meus olhos cor-de-mel… o Alfa amarelo estava lá! O velho estava indo embora com a minha gata.
Puta que o pariu! Puta que o pariu! E chutei forte uma coisa e essa coisa deu um urro porque era um alemãozão, o dono do Porsche 550, que estava deitado sob o carro arrumando sei lá o quê.
— Ô seu filho da puta! — ele gritou.
— Puta que pariu, desculpe! Foi sem querer. Eu… — fui me desculpando.
— Como, sem querer? Você me chutou, seu cretino! Como assim sem querer? Você me chutou! — ele retrucou enquanto levantava. E ele não acabava mais de levantar porque devia ter uns dois metros de homem ali que parecia um paredão tomando a minha vista, encobrindo um lado do mundo e eu até tive tempo de pensar como é que um cara desses cabia dentro de um Porschinho daqueles…
E lá veio o tapa. Abaixei esquivando, porque ele era forte mas era lerdo e mandei-lhe um pé no saco e saí correndo feito uma lebre. Pulei pneus, caixa de ferramentas, galões de gasolina, mecânico deitado e quando ainda corria passando pelo portão da área dos boxes passei pelo Alfa que estava indo para a fila de saída, e passei correndo por eles. O velho italiano buzinou quando me viu e tentou ir de carro atrás de mim e quando tirou o Alfa de lado o alemãozão que vinha correndo feito um búfalo bateu as longas pernas no pára-lama direito do Alfa e capotou por cima do capô.
Olhei rapidinho para trás e, quando vi o estrago, diminuí o ritmo e parei tomando ar. Eu tinha medo que minha italianinha, defensora ardorosa que era do pai, acabasse entrando no rolo, então fiquei olhando para ver se eu teria que voltar para o fogo cruzado. Eles discutiam entre eles numa mistura de italiano com alemão e inglês que dava para ouvir de longe, porém, em certo momento os dois viraram os olhos em minha direção e apontaram para mim. Senti-me fuzilado por ódio e tremi na base. A italianinha ria. O alemão ameaçou de correr em minha direção e eu tratei de ir saindo de fininho apertando o passo. Andei dez metros e o gordão do banheiro abriu a porta de um Mustang 350 GT branco com faixas azuis e, com dificuldade, começou a tirar as banhas de dentro do carro. “Hey, kid! Go fuck yourself!”, foi só o que escutei, pois já estava trotando para o hotel e nem olhava mais para trás.
“Puta que o pariu! Nessa eu me fodi!”, eu constatava, triste. “E nem o nome peguei. Nem o nome! Puta burro!”
Fui a pé. Estava sem dinheiro para o táxi. Fui por ruelas sem movimento para que não me achassem. Entrei pelo portão de serviço e subi pela escada para o nosso quarto. Tomei um banho e fiquei na espera de Jules, que não tardou a chegar. Ele já sabia de tudo. Todo mundo comentava o entrevero, ele falou. Eu era o selvagem encrenqueiro.
— Monsieur, como é que é a prisão daqui? É boa? — perguntei, cabreiro.
— Deve ser. Os neozelandeses são muito gentis — ele respondeu.
— Ainda bem…
— É mesmo, meu rapaz. Ainda bem…
— E o carro? Andou bem? — perguntei, tentando animar a conversa.
— Está um tiro! Melhor que nunca! Vamos dar uma sova nesses cretinos! — disse Jules que, levantando começou a gesticular.
— Isso mesmo! Vamos dar um olé nesses caras! Zip, zap… e eles não vão nem ver quem os passou! — entrei no ânimo.
E Jules tratou de andar pelo quarto, me falando como é que deveria pôr o carro em cada curva, os pontos de referência, os rivais perigosos, onde o piso estava com menos aderência e onde estava melhor, qual marcha usaria em tais e tais trechos, que pressões usar nos pneus, ajuste de molas, quantidade de combustível e por aí afora.
Após a confabulação ele foi tomar um banho, vestiu-se e desceu para jantar com os amigos. Por precaução, pedi meu jantar no quarto. Vi uma TV chata e insossa, escovei os dentes, li meu livro e dormi. O dia tinha sido cheio…
Acordei logo cedo com Jules abrindo as cortinas. Enquanto eu ainda me coçava ele foi dizendo que na noite anterior conversara com meus inimigos para tentar limpar minha barra e que estava tudo mais ou menos bem.
— Mais ou menos bem? Como assim? — perguntei.
— Mais ou menos é não mexa com eles. Não chegue perto. Não vá falar com eles. Fique na sua — ele orientou.
— Fico tranqüilo na minha, então?
— Fique na sua, mas, conselho de amigo: não fique muito tranqüilo, tá bom?…
— Tá bom. Vamos logo pra pista, então? — perguntei.
— Vamos! — e me deu o costumeiro tapa ardido na perna. Vamos tomar café e vamos logo pra luta.
— Luta? — perguntei, assustado, arregalando os olhos.
— É só modo de dizer. Vamos correr, rapaz! Conosco ninguém podosco! – ele bradou.
— Vambora!, e pulei da cama e corri para lavar a cara e coisa e tal.
O dia havia amanhecido frio e nublado, mas, apesar disso, os competidores estavam animados e nem bola davam. Já eu, desacostumado com um clima desses, mesmo estando encapotado com todos os agasalhos que consegui espremer por dentro do casaco, andava encolhido. Encolhido e esperto.
O treino começaria às oito, a tomada de tempos às dez e a corrida ao meio-dia. O neozelandeses são pontuais, não vi a italianinha dos olhos cor de mel, e às oito liberaram a pista. Jules saiu para o treino. Como sempre, saiu como que a passeio, mas já na quarta ou quinta volta o Eleven passava zunindo pela reta dos boxes. O vi engalfinhado com carros grandes e muito mais potentes, zumbindo como uma abelha nos calcanhares de um Porsche 911 e ultrapassando-o numa curva sem mais delongas. Disputou freadas com um Aston Martin DB4 numa ousadia preocupante. Concentrado, eu observava tudo o que Jules fazia, tudo, e até esqueci da italianinha.
Tomada de tempos. Jules tirou uma carta da manga e conseguiu o quarto lugar na geral e primeiro na classe, até 1.100 cm³. À sua frente, somente carros de categorias mais fortes: um Aston Martin DBR 1/300, um Ferrari 315 S e um Maserati 300 S. Logo atrás de Jules vinha o Porsche 550, motor 1500 quatro-comandos. O Alfa largaria no fim do grid.
Exatamente ao meio-dia (com precisão que nunca ocorreria em Moorea) baixou a bandeira neozelandesa. Imediatamente, os motores urraram e uma fumaceira danada brotou dos escapes e pneus e tomou conta do grid. Quando voltei a ver Jules ele já estava mergulhando por dentro da primeira curva e tomando o terceiro lugar do Maserati 300 S. Trazia o Porsche 550 em seu vácuo. Entraram na reta, o Maserati foi retomando distância e pressionando o alemão do 550, que ferrenhamente se defendia, impedindo sua passagem. Isso ajudou Jules, que se distanciou dos dois, porém aos poucos perdia terreno para o Aston e o Ferrari, que despontavam adiante.
Assim prosseguiu a corrida no pelotão da frente, até que, após cinco voltas o Maserati conseguiu driblar o alemão, ultrapassou-o e partiu à caça de Jules. Mais quatro voltas e o Maserati já encostava perigosamente na traseira do meu Eleven. Ele vinha com o sangue quente após o pega com o 550 e pilotava como um louco, travando pneus nas freadas e volta e meia entrando em leves pêndulos. Colou em Jules.
Na hora, não entendi bem por que Jules lhe abriu passagem, mas o Maserati passou-o com facilidade e seguiu alucinado adiante. Jules foi em seu vácuo por quase uma volta e, com isso, ambos ganharam terreno sobre o Ferrari e o Aston, que atrapalhados pela briga, e alternando-se na liderança, perdiam tempo. Mais cinco voltas e o Maserati entrou nessa briga, e então eram três se digladiando ferozmente. Jules, rápido e pilotando o fino, seguia com sua regularidade irritantemente veloz. Aos poucos, consistentemente, foi achegando-se aos três e manteve distância de uns dois segundos dos lutadores, parecendo observá-los de camarote, a uma distância segura.
Não deu outra. A certa altura, faltando duas voltas para o final, os três, trovejando, passaram coladinhos pela reta dos boxes. Ferrari, Aston e Maserati, essa era a seqüência. Na freada para a curva, falharam os freios do Aston e ele entrou com tudo na porta do Ferrari. Buuff! Os dois rodaram e, sem ter por onde escapar, o Maserati entrou no bolo. Eram pedaços (caros) de carros para todos os lados. Jules, ágil, desviou dos destroços e foi-se embora. Dei pulos e gritos dos mais selvagens, extravasando minha alegria e assumindo de vez minhas origens. Mas não era só eu quem gritava, pois o nome de Jules era ouvido aos berros de todas as bocas, “Jules! Jules Maigret!”, “Viva!” O Porsche estava longe lá atrás e não lhe oferecia perigo. Apesar disso, Jules continuou correndo forte, e com isso distanciava-se ainda mais do alemão. Pareceu-me que ele queria tirar o último gostinho dessa corrida, o último gostinho da velocidade do Eleven, e assim ele recebeu a bandeira quadriculada a pleno gás,… zzouufff!!!… E venceu! Venceu e o fez com tremenda categoria.
Nisso, em meio à balbúrdia, a italianinha aparece ao meu lado e me abraça gritando: “Vocês venceram! Vocês venceram!”
— Você viu só, bambina? Esse Jules é demais, não é? E o carro é meu! O carro é meu, bambina! — eu berrava.
— Não é só a corrida! Vocês venceram a prova toda! Dos três que ficaram à sua frente no rali, um quebrou e os outros dois ainda nem cruzaram a linha de chegada. Estão do décimo para trás! — ela afirmou, me agarrando e me lascando um beijo esfuziante.
— Humpf, humpff… Vencemos tudo, então? — perguntei, ao me recobrar.
— Venceram, meu reizinho! Venceram!
— Não sou reizinho coisa nenhuma, você sabe. Caramba!
— Pra mim, é.
— Então, tá bom.
Nisso, Jules já vinha chegando com o Eleven. Tinha uma enorme coroa de flores em volta do pescoço e uma garrafa de champanha no colo.
— Vencemos, monsieur! Vencemos! — gritei, assim que parou o Lotus Eleven ao meu lado.
— E você ainda duvidava disso, meu rapaz? Pois não estou te falando isso faz tempo? Desde a nossa conversa no bar do velho Teahupoo que eu venho te afirmando que a gente ia ganhar! — ele exclama, dando risada.
Pois foi isso que aconteceu nestes últimos tempos; essa confusão toda na minha vida.
Trouxemos a taça. Jules e eu a levamos ao túmulo de meu pai, lá na montanha Rotui, e somente lá abrimos a garrafa de champanha. Ali, servindo-nos do troféu, bebemos a garrafa toda, enquanto Jules contava ainda mais histórias da juventude do seu amigo Frederick Bronson, meu pai. Ali deixamos o troféu e a garrafa.
Monsieur Jules e madame Gabrielle estão aqui já faz dois meses. Irão embora amanhã, mas prometeram voltar todo ano.
O Lotus Eleven está descansando na garagem.
E a italianinha?
Nada demais. Um blefe. Era fria feito um peixe.
E agora, se me dão licença, já ouço Wahine latindo. Deve ser Raiatea chegando — minha nova namorada; uma moça linda e graciosa, nativa aqui da ilha e a queridinha de minha mãe. Vamos juntos pegar umas ondas porque o mar está bom. Monsieur Jules vai conosco. Ele está aprendendo a surfar. E olhem que ele leva jeito, além do que já perdeu boa parte da barriguinha.
Hoje à noite teremos uma festa de despedida do casal Maigret. A festa será na praia, com comida nossa, música nossa, dança nossa, e muita fruta saborosa.
E chega de carro por uns tempos!
Adieu!
Charles Tevahitua Bronson