
Os carros conectados vêm aí, mas isso não é só um mimo ao consumidor de carros que gostaria de ter internet no painel do carro. Há dinheiro no painel dos carros, e isso está atraindo e incentivando a criação dos carros conectados por parte de grandes corporações que realmente desejam ter acesso a uma nova fonte de lucros. É evidente que os fabricantes de carros querem lucrar com esta oportunidade, mas o mundo digital é completamente estranho para eles. Que oportunidades existem nesse maravilhoso mundo estranho? Que armadilhas ali se escondem? Velhos modelos de negócio funcionam ali?
Esta parte de “Mundo estranho”, a segunda, pretende jogar alguma luz sobre este assunto, focando alguns casos já ocorridos.
Os desafios da indústria da música
Comecemos pela análise do modelo de negócio da música digital, pois é um modelo que teve um começo, tem um meio, mas seu fim continua em aberto.
No início, o computador era um mundo à parte, onde apenas programas e dados existiam. A pirataria que existia era apenas desse tipo de conteúdo. Entretanto, com o avanço da tecnologia, mais e mais coisas do mundo físico passaram a ter representação no mundo digital sob a forma de arquivos digitais, possibilitando que elas pudessem ser pirateadas.
Em 1997, um advogado especializado em tecnologia da informação mandou para a imprensa uma carta aberta alertando as gravadoras sobre o risco potencial de pirataria, pois as tecnologias para isso já existiam em abundância na rede. As gravadoras não deram ouvidos e continuaram com seu velho modelo de negócio. Então, em 1998, o Winamp torna-se um dos aplicativos mais baixados da internet porque executa arquivos MP3 com extrema facilidade de uso. Mas isso cria um problema: onde conseguir MP3? A resposta veio de um adolescente que criou no seu quarto um programa chamado Napster. O par Winamp/Napster colocou a arrogante indústria fonográfica de joelhos.
A indústria fonográfica conseguiu fechar o Napster após dois anos de batalha judicial para manter seu modelo de negócio. Mas ela descobriu amargamente uma natureza da pirataria: rei morto, rei posto. E ela continuou processando e fechando serviços de troca de arquivos um após o outro, apenas para ver novos e mais numerosos surgirem: Kazaa, Audio Galaxy, Grokster, LimeWire… Agora estamos na fase onde reina o protocolo Torrent, altamente eficiente na disseminação de grandes arquivos, como vídeos, e onde o The Pirate Bay reinava absoluto até ser fechado.
Na época do LP (discos long-play), as pessoas estavam acostumadas a fazer cópias deles em fita cassete, inclusive para amigos, e a indústria nunca se manifestou contrária a prática. Se até mesmo os aparelhos de som da época tinham função nativa de cópia, por que o ato de compartilhar na internet seria ilegal? Para as gerações mais velhas como a minha, o ato de compartilhar música pela internet era apenas uma forma mais nova e poderosa de fazer algo que sempre foi feito às claras e ninguém chamava aquilo de pirataria, nem mesmo as gravadoras.
Ao chamar os compartilhadores de música de piratas, a indústria fonográfica só alimentou a raiva entre seus próprios consumidores, ferindo o fair use e alimentando ainda mais a pirataria então iniciante.

As revoluções técnicas na internet transformaram o meio da música de maneira muito profunda. Antes, o consumidor não tinha opção. Se ele queria ouvir uma música em casa sem esperar pelo rádio, ele precisava comprar o disco na loja. Isso dava um poder desproporcional e desequilibrado a favor da indústria fonográfica. O MP3 e lançamento do Winamp libertaram a música da mídia física, permitindo a sua reprodução a partir de um simples arquivo de computador facilmente copiável, enquanto que o Napster foi o primeiro sistema que permitia encontrar em qualquer lugar do mundo um arquivo de computador contendo a música desejada. O poder de replicação e distribuição eficiente e em larga escala passou das mãos da indústria para os próprios consumidores.
Essa transferência de poder, que não pode mais ser revertida, é o fato que transformou o meio da música e deveria causar transformações no modelo de negócio das gravadoras, mas passados 15 anos do começo dessa guerra, à qual se juntou a indústria cinematográfica, pouco se fez nesse sentido. Infelizmente, todos perdem com isso.
Outra grande transformação está na percepção de valor da música. O modelo de negócio das gravadoras nos tempos do LP e do CD era de oferecer cada cópia com apenas uma ou duas músicas apreciáveis e o resto era apenas para ocupar espaço, mas cobrando um valor cheio por 15, 20 músicas. Se as pessoas comprassem CDs de 20 músicas a R$ 100 (valor referencial tomando que o preço médio de um CD Premium no Brasil era de R$ 40,00 em 1998, antes da revolução do Winamp e Napster) por apenas duas músicas que elas apreciavam, então a indústria fonográfica na verdade ganhava R$ 50 por cada música realmente interessante para o consumidor. Era caríssimo, mas as pessoas pagavam por falta de alternativa.
Como a indústria nunca se preocupou em explicar o custo da licença de uso, os consumidores pensavam que o custo referia-se à mídia. Quando a música se transformou em um simples arquivo de computador, facilmente reprodutível a um custo irrisório, os consumidores não viam valor comercial significativo no arquivo. Esta sensação foi reforçada por outras.
Quando substituímos o trabalho remunerado de uma pessoa pelo trabalho automático de uma máquina, este trabalho passa a ser gratuito. Não estou falando do custo de aquisição do equipamento nem o consumo de matéria-prima. Quanto se paga pelo trabalho de uma lâmpada que fica acesa? Quanto se paga pelo trabalho de um forno microondas para estourar um saco de pipocas? E quanto se paga para um aparelho reproduzir um arquivo digital de música?
Uma moderna fábrica de balas exige máquinas e equipamentos, feitos em aço inox e sempre com extrema limpeza, com funcionários especializados, consumindo muita matéria-prima e energia, e ela precisa sair da fábrica e ser transportada por um complexo sistema de logística até chegar ao consumidor. E ainda assim uma bala custa centavos. E qual o custo de reprodução de uma música em formato digital? O valor é irrisório até mesmo para padrões caseiros, de baixa produtividade. Que referência convincente ao consumidor existe para fundamentar que uma música digital deva custar R$ 5?
Vamos pensar num simples cartão microSD de 8 gigabytes (pequeno para os padrões atuais) sendo preenchido por 1.600 músicas de 5 minutos cada. Se o preço for de R$ 1 por música, estamos falando em R$ 1.600. Se for no modelo dos tempos áureos do CD, quando um de R$ 100 tinha duas músicas interessantes, o custo de R$ 50,00 por música interessante faz o preço do cartão cheio atingir R$ 80.000. Nitidamente, qualquer opção gera valores desproporcionais, mas são valores normais para a indústria fonográfica. O consumidor é sensível a isso e do seu ponto de vista, se a música não é gratuita, ela deveria custar poucos centavos ou fração de centavos.
Ele também está sensível ao fato de que agora ele pode remunerar diretamente o artista em vez de pagar a um intermediário de tamanho e poder corporativos. Se é para ser ético, que se pague diretamente ao artista e não via um atravessador. A imposição de um intermediário poderoso e que provavelmente levará a maior parte do que foi arrecadado, deixando pouco para o artista, é um bom motivo para muita gente preferir a pirataria.
Fair use está ligado a tudo isso: percepção de valor, equilíbrio de forças, distribuição justa do valor pago por cada música, e assim por diante. Se existem limites para um lado, existem igualmente para o outro. Se o fair use for rompido por um lado, o equilíbrio será restabelecido com o outro lado buscando uma solução igualmente radical.
Então, ou a indústria se adapta a essa percepção de valor, buscando uma relação harmônica dentro da nova realidade, ou o consumidor continuará exercendo o seu poder através da pirataria. Esta percepção de quanto um modelo de negócio pode ser afetado pelas transformações técnicas é fator primordial para o futuro de qualquer empresa ou setor.
Qualquer tipo de serviço a ser oferecido no painel do carro precisa ser estudado nos termos que observamos, principalmente na questão de valor percebido.
O iTunes é um modelo revolucionário?
Ainda no caso da música, vimos o caso da aliança entre a Apple e as grandes gravadoras para a venda de música pela internet. De todas as lojas online, o iTunes foi certamente a iniciativa de maior sucesso. Entretanto, a relação nunca foi exatamente a melhor possível entre as partes. No modelo da Apple, cada música era vendida separadamente e ao preço de US$ 0,99 cada uma. Onde antes a indústria fonográfica ganhava US$ 5 por música de sucesso vendida (considerando um CD de US$ 10 com apenas duas músicas interessantes), agora eles faturariam centavos, pois a Apple levava uma fração significativa dos US$ 0,99 brutos.
Também o conjunto de consumidores alcançáveis pelo iTunes era muito limitado perto da universalidade do CD, uma vez que o uso de produtos da Apple seria um condicionante. Além disso, a indústria fonográfica nunca aceitou muito bem a precificação uniforme das músicas pelo valor mais baixo imposto pela Apple. Mesmo esse modelo sendo considerado de sucesso, não chegou a ser um pingo d’água perto do oceano que havia sido os universais e onipresentes LP e o CD para a indústria fonográfica. Foi um excelente negócio para a Apple mas nem tanto para as gravadoras, apesar de elas se agarrarem ao iTunes como uma tábua de salvação no mundo digital.
O tempo passou e o iTunes foi ultrapassado pelas rádios online e serviços legais de streaming, e de novo gravadoras e artistas ainda não entenderam o novo meio para ajustar um modelo de negócios em sintonia com os novos tempos. Resultado: incentivo à pirataria que eles mesmo combatem.
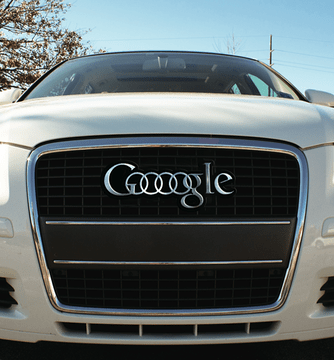
Outro lado obscuro da relação da Apple com gravadoras é a questão da tecnologia fechada. As gravadoras não acharam um jeito de manter a música digital sob controle cerrado como havia sido com o LP e o CD. Muitos tentaram oferecer soluções, como a Microsoft, mas nenhum projeto vingou.
Steve Jobs, com seu magnetismo pessoal, convenceu a indústria fonográfica de que possuía a solução, mas as gravadoras exigiram um sistema de gerenciamento de direitos autorais (DRM, Digital Rights Management). O primeiro iPod só permitia tocar músicas legalmente compradas. Foi um fracasso e durou pouco. Só quando Jobs e as gravadoras cederam e abriram a possibilidade de instalação de MP3 genéricos é que a venda do iPod decolou. Anos mais tarde a própria Apple tornou pública uma estatística que mostrava que mais de 99% dos iPod’s, iPhones e iPad’s tinham 5 músicas legalizadas instaladas ou menos. Pouco, para os padrões da indústria fonográfica, mas a melhor resposta no meio digital.
Mas o sistema de DRM era incômodo. Hackers conseguiam quebrá-lo com facilidade e custava caro para a Apple ficar reparando. Então Jobs escreveu uma carta aberta, direcionada às gravadoras, mostrando por que o DRM deveria ser eliminado. Hoje muitas músicas do iTunes são vendidas sem DRM. Entretanto, isso não representa o fim dos entraves na manipulação de músicas. Manipular arquivos de música num iPhone ou num iPad é cheio de bloqueios e condições, muito distante das facilidades em smartphones e tablets Android e Windows. E nisso voltamos ao que já foi dito na primeira parte: a pirataria é simples, direta e fácil de usar, e quanto mais barreiras e entraves se colocam no uso legalizado da música, maior o incentivo à pirataria.
No fundo, o iTunes não foi tão revolucionário quanto parece. Ele é, na verdade, uma adaptação do velho modelo das gravadoras para o mundo digital, e que genialmente coloca a Apple como intermediária entre os consumidores e as gravadoras, tirando lucro para a empresa de um setor que não é o dela. Por não ser tão revolucionário, tentando preservar antigos modelos de negócio, o iTunes envelheceu rapidamente. As vendas de música pelo iTunes estão em declínio enquanto serviços de streaming, mais sintonizados com a dinâmica do mundo digital, estão em ascensão.
A história do iTunes oferece detalhes importantes que a indústria automobilística precisa prestar atenção ao criar parcerias com empresas do setor digital. A questão da tecnologia fechada é também é importante para o setor automobilístico porque cria-se uma cadeia que pode futuramente gerar grandes prejuízos ao setor ou aos consumidores. As exigências das partes ocorrem em cadeia que termina sempre no consumidor, mas passando pelo setor automobilístico. Distorções por interesses de uma parte são carregadas para a parte seguinte e sobrepostas por novas distorções, e o consumidor pode adquirir um produto completamente canhestro. É um passo para as críticas dos consumidores, ao hacking e à pirataria que, com certeza, a indústria automobilística não deseja.
Entendendo a natureza do negócio da música
A pirataria é uma forma de entender a transformação do mercado da música. As pessoas pagam para uma diarista trabalhar um dia em suas casas, mas não pagam um centavo para cada saco de pipoca estourado no forno microondas. Cada vez mais as máquinas executam trabalho automático sem um custo por operação e as pessoas verão cada vez menos valor nas ações automáticas. O caso da música é semelhante.
Por séculos, os músicos viviam de cada apresentação que fizessem para um público limitado. Veio o rádio e um músico poderia alcançar milhões de ouvintes com uma única apresentação. Com o fonógrafo, um músico executava a música apenas uma vez e essa execução podia ser ouvida por milhares de pessoas em diferentes instantes. Junte o rádio e o fonógrafo e o potencial de escala se torna ilimitado. Isso virou um grande negócio quando se investiam em poucos artistas que eram promovidos como estrelas e as pessoas pagavam caro para ouvir uma gravação.
O tempo e a internet transformaram essa percepção. As pessoas perceberam que uma música gravada é apenas uma automação. Pode-se ouvir a mesma música milhares de vezes e nenhuma nota será tocada fora do mesmo tom. Não há esforço na execução da música gravada. Há pouco valor nisso. Porém, ver seu artista predileto ao vivo, cantando a plenos pulmões, é bastante diferente e as pessoas pagam com gosto para vê-lo.
A pirataria nivelou as discrepâncias. Ninguém quer ouvir aquelas músicas que só serviam para encher o caríssimo CD. As pessoas agora possuem poder de escolha e exigem apenas músicas de qualidade. As músicas que chamavam a atenção não têm grande valor na forma de gravação, enquanto as apresentações ao vivo são valorizadas. A pirataria destrói o faturamento milionário das grandes estrelas e das gravadoras ao mesmo tempo que promove centenas de artistas desconhecidos, trazendo maior equilíbrio e qualidade a esse meio. Nunca se ouviu tanta música e nunca houve tanto dinheiro correndo nesse meio, mas o modelo não é mais o de vender música padronizada em disco, mas sim de fazer shows. É ao seu próprio meio, um retorno ao antigo modelo do artista-trovador. Puro Yin e Yang.
Qualquer modelo de negócio que venha a se firmar sobre a música digital deve enfrentar a natureza do mundo digital de frente. O iTunes, por tanto tempo apontado como modelo de sucesso, vem perdendo vendas significativas, enquanto o streaming, não. Isto não significa que o streaming ganhou. Não há garantias de que novos modelos de negócio ainda mais em sintonia com o mundo digital possam surgir, mas por enquanto este é o melhor modelo.
A estranha relação da pirataria e serviços legalizados
É curioso notar que existe uma parcela de produtos e serviços que possuem modelos de negócio legalizados que tiram proveito da pirataria. A justificativa para se pegar um serviço de banda larga no passado era a possibilidade de baixar músicas pela internet, inviável de se fazer com o antigo modem discado. Progressivamente, os padrões de música foram melhorando gerando arquivos maiores e impulsionando o aumento das velocidades de conexão, quando então entrou em jogo a pirataria de filmes, com arquivos ainda mais pesados. Esta mudança também impulsionou primeiro o uso de gravadores de CD e depois de gravadores de DVD, reprodutores de CD e DVD para carros, bem como a venda de mídias graváveis e regraváveis. Se a maior parte do conteúdo que é manipulado por esses equipamentos tem sua origem na pirataria, então esses fabricantes vivem indiretamente da pirataria.
Agora temos o fenômeno das impressoras 3D, que precisam de arquivos ainda maiores. E que tipo de coisas as pessoas irão imprimir nessas impressoras? A criação de modelos 3D detalhados é processo complexo. Portanto, as pessoas irão comprar e usar impressoras 3D a partir de modelos baixados da internet, o que na grande maioria dos casos significa pirataria. Veremos bonecos de personagens dos quadrinhos e do cinema, peças para carros, artigos de arte e decoração, todos produtos com direitos de autor. Este será o impulso para a disseminação de serviços de banda larga em fibra ótica e mídias de armazenamento muito maiores, além das vendas das impressoras propriamente ditas.
Sem a pirataria não haveria o impulso de progresso desses produtos e serviços, e é de se esperar que haja um incentivo indireto e disfarçado à pirataria por meio dos fornecedores dessas soluções. Antes do sucesso de qualquer iniciativa de música ou de filmes pela internet, um grande fornecedor de serviços de banda larga fazia uma propaganda que dizia “…Baixe músicas e filmes com rapidez e facilidade…”. Se não haviam serviços oficiais na época (algo ainda hoje bastante deficiente), então essa empresa estava estimulando a venda do seu serviço mediante um incentivo disfarçado à pirataria.
Se tantos produtos e serviços geram tanto dinheiro, empregos e crescimento da economia a partir da pirataria, então de uma maneira geral a pirataria não pode ser taxada de totalmente danosa como geralmente é feito. Sem ela, haveria poucos motivos para se ter uma conexão realmente veloz de internet, e logo os consumidores pressionariam pela redução de preços nos serviços existentes.
Uma idéia antiga, baseada neste conceito, é a da criação de uma “taxa da pirataria”. Cria-se uma taxa fixa nas tarifas de internet, por exemplo, algo como R$ 15 por mês. Criam-se programas oficiais de download que registram títulos e autores de obras que fossem baixados por toda rede, e libera-se a troca de arquivos. Quanto mais uma obra ou artista é copiado, maior a parcela do fundo da “taxa de pirataria” iria para ele. As pessoas continuariam a compartilhar livre e legalmente pela internet, e os artistas seriam devidamente remunerados.
Serviços de streaming, como Spotify e Netflix, vêm explorando esse modelo um tanto modificado, mas a indústria de entretenimento ainda não aceitou bem essa idéia, principalmente em função da baixa remuneração por cópia de obra. Porém quanto mais a indústria de entretenimento se opõe a serviços como Spotify e Netflix, mais ela deixa a pirataria seguir solta e que não remunera nada.
O lucro do grátis
Há na internet também o reverso da moeda. Trata-se do lucro pela gratuidade. Há uma frase bastante popular na internet: “Quando você não paga pelo produto, você é o produto”. Isto é bem antigo, na verdade.
Quando Marconi patenteou o rádio, muitos setores econômicos acharam o invento interessante, mas disseram que não haveria futuro para ele, uma vez que não haveria como cobrar das pessoas para ouvirem o rádio. O próprio Marconi resolveu o problema criando a propaganda pelo rádio. O modelo depois foi adotado por sua “filha”, a TV.
No rádio e na TV, o anunciante paga pela audiência, e isso é um problema. Se o anúncio é de um produto de limpeza que facilita a vida doméstica, ele chama a atenção da dona de casa, mas não do marido e das crianças. Uma propaganda de carro pode sensibilizar o marido, mas não o resto da família, e assim vai. Mas cada anunciante paga por todos que assistiram ao anúncio. O retorno dessas propagandas é baixo, e por isso o valor pago por espectador precisa ser baixo. Ainda assim, apesar da propaganda sempre ser um ato invasivo, ela é democrática. Todos os que assistem aquele canal de TV naquela hora assistirão ao mesmo comercial. Dizemos então que este é um anúncio não direcionado.
Por outro lado, vemos que o rádio e a TV não são verdadeiramente gratuitos. Embutidos nos preços dos produtos que compramos e foram anunciados está parte do que foi pago para anunciar nas emissoras.
A coisa muda quando o meio é a internet. Monitorando os passos do internauta (a navegação na web, os e-mails que manda e para quem manda, a busca por lugares nos mapas etc.) revelam muito sobre os interesses individuais de cada um. Se um internauta começa a procurar muito por determinado modelo de carro, escreve aos amigos sobre ele, procura concessionárias da marca na região, então ele está muito sensível à compra desse carro. Se o fabricante ou uma rede de concessionárias pagar um anúncio ao site de monitoramento, o anúncio pode ser altamente direcionado e ter alta eficiência. O anunciante precisa gastar menos na internet para ter uma resposta mais efetiva e isso vale muito dinheiro. Porém, a propaganda direcionada parte da invasão da privacidade do usuário e do monitoramento constante dos seus atos online, o que vem sendo altamente combatido mundo afora.
O Google é o exemplo máximo desse modelo, mas para que o modelo funcione é preciso coletar informações sobre os usuários, e isso é feito pela oferta de serviços gratuitos de qualidade. Um bom exemplo de quanto isso vale é o Google Earth. Antes do lançamento do serviço, uma fotografia de satélite em alta resolução de uma área restrita era vendida por centenas de milhares de dólares pelas empresas especializadas, no entanto passaram a ser disponibilizadas gratuitamente na internet do dia para a noite, tudo porque a busca por lugares no Earth revela muito sobre quem está pesquisando. Os dados gerados pelas pesquisas no Google Earth são muito mais valiosas do que se poderia obter pela venda das fotografias. Os populares celulares Android, sem custo para os fabricantes de aparelhos, é outra fonte vital de informações para o Google. Mas não é só o Google que mantém monitoramento cerrado. Todas as grandes companhias de informática, como Facebook, Apple, e até a TomTom já foram apanhadas várias vezes monitorando silenciosamente e até comercializando informações de seus usuários.
Muitos leitores, além de entusiastas de automóveis, devem ser entusiastas de informática, e já devem ter ouvido falar em “big data”. “Big data” é a evolução de uma tecnologia de rastreamento que fez sucesso nos anos 1990, chamada “Data Mining”. Um exemplo clássico de data mining foi uma descoberta feita pelo Walmart. A rede de supermercados descobriu uma estranha relação entre fraldas para recém-nascidos e cerveja apenas processando os itens de cada venda nos seus caixas. Ao estudar o caso, descobriu que fraldas para recém-nascidos geralmente são compradas pelo pai da criança, enquanto a mãe permanece em casa em repouso. Bastou aproximar a gôndola de fraldas da sessão de cervejas para as vendas explodirem.
“Big data” tem um caráter semelhante, mas muito mais profundo e individualizado, porém tem de lidar com um volume ainda maior de dados, e é considerado o futuro do comércio. Porém, ele é a radicalização de saber coisas sobre cada pessoa além de qualquer limite razoável de respeito à privacidade dos consumidores para favorecer uma venda. Hoje é possível dizer, com absoluta certeza, que algumas empresas sabem mais sobre cada um de nós do que nós mesmos.
O modelo em rede
Robert Metcalf tem um currículo extenso, como criador do sistema Ethernet de redes locais e fundador da empresa de conectividade 3Com. Antes do boom da internet, ele fez uma afirmação profética: “O valor de uma rede é proporcional ao quadrado do número de nós existentes nela.” Hoje entende-se rede de uma forma muito mais ampla do que simplesmente computadores ou telefones interligados. Mais valiosas são as redes humanas que se criam a partir destas conexões. Saber a rede de contatos que as pessoas possuem é dizer muito sobre elas e o potencial comercial deste conhecimento é enorme.
Quando olhamos para a história da internet vemos que o primeiro grande negócio em termos de redes foi a venda do ICQ para a America Online (AOL), mas então esse tipo de negócio não só continuou como prosperou, com várias aquisições bilionárias. A Microsoft comprou o Skype mesmo tendo o MSN; o Google comprou o Waze, o Facebook comprou o Instagram e pagou 17 bilhões de dólares pelo WhatsApp. Em todas estas negociações bilionárias um fato chama a atenção: quem comprou um serviço de rede social tinha larga capacidade técnica para criar um serviço concorrente. Então, qual era o ativo que estas redes possuíam de tão valiosas? Era sua rede estabelecida de contatos.
Uma rede de contatos se forma lentamente, e, de repente, alguns serviços ultrapassam o joelho da curva e tem crescimento explosivo de seus contatos. Mas para cada serviço que atinge este ponto, muitos outros morreram pelo caminho. Para as grandes empresas não há garantia que eles produzirão um concorrente e este terá sucesso imediato no mesmo nível do serviço original. Sai mais barato e oferece retorno imediato comprar uma rede estabelecida do que criar uma e esperar que ela dê certo.
O caso do Facebook comprando o Instagram e o WhatsApp revela outro detalhe importante sobre este negócio. O Facebook, uma rede social, comprou uma rede social com foco em fotografias e outra rede com foco em mensagens instantâneas pelo celular. Onde está o valor destes negócios? O valor está na diferença que a proposta da rede causa sobre a rede de contatos que é criada. A rede de contatos de uma pessoa no Facebook é diferente da rede dela no Instagram e é diferente da rede dela no WhatsApp.
Carros conectados certamente oferecerão oportunidades para novas redes de contatos por estarem dentro de um contexto próprio e, por isso, criando redes de contatos com características próprias, e a indústria automobilística deverá estar em sintonia com os fenômenos das redes sociais nos painéis dos carros para não perderem oportunidades.
O modelo de negócio da internet embarcada
O exemplo da guerra da música é importante para o setor automobilístico que agora está entrando com os dois pés nesse meio e pode aprender muitas lições. É preciso entender como as revoluções do meio digital tornam obsoletos velhos modelos e práticas de negócios, e de como modelos impensáveis há alguns anos têm maior potencial de sucesso dentro da rede. É preciso entender que os antigos modelos, estabelecidos unidirecionalmente do fabricante para o consumidor, mudou para um modelo de equilíbrio bidirecional de poder a partir da coesão dos consumidores conectados. E, a partir dessa conclusão, entender como o fair use pode fazer a diferença entre um relacionamento harmônico e uma batalha campal contra seus próprios consumidores.

Entretanto, observem com cuidado o que vem sendo proposto tanto pela Apple quanto pelo Google para os carros conectados. As telas parecem um retrocesso de 15 anos em termos de interface. Por que isso? As telas nos painéis são fatores altamente desejáveis e atraentes hoje em dia, mas já se sabe há muito tempo que motoristas não podem sofrer distrações enquanto dirigem, daí o retrocesso.

Mas a verdadeira questão é que ninguém sabe direito qual a melhor interface de um sistema conectado estando o motorista atento ao trânsito, e se não sabem bem qual a interface, não se sabe que tipo de aplicações serão importantes nos carros conectados além das já tradicionais, como som, atendimento de telefone, GPS conectado, condições do trânsito ao longo do trajeto e computador de bordo. E se não sabemos ainda que aplicativos serão importantes, não sabemos que informações terão relevância para o motorista. Sem isso será impossível saber exatamente como monetizar o painel dos carros como deseja a indústria automobilística.


Mas mesmo que não saibamos isso, entretanto sabemos de pelo menos uma coisa. Automóveis só fazem sucesso porque o combustível é barato e abundante. Da mesma forma, carros conectados só farão sucesso se o fluxo de dados móveis for abundante e barato. Isso tem ido na contramão da política das operadoras de telefonia celular.

Aqui no Brasil, por exemplo, há em algumas operadoras uma franquia diária de 10 Mbytes por R$ 0,50. É uma franquia muito cara e que a partir deste ano implicará no corte da conexão quando o limite da franquia for atingido. Mais dados, só com pagamento de nova franquia. Isso é muito caro para um carro conectado. O motorista também experimentará corte de conexão enquanto dirige e não poderá ficar se distraindo, comprando mais novas franquias.
Então, ou a política de conexão muda e se torna mais barata (o que depende das operadoras de telefonia celular), ou os carros conectados se tornarão um fiasco. Esta é uma guerra que a indústria automobilística terá de comprar para tornar os carros conectados uma realidade.
Já combinamos isso com os russos?
Diz a lenda que durante a preleção do jogo do Brasil com a União Soviética pela Copa do Mundo de 1958, o técnico Vicente Feola ia ditando a tática até chegar ao gol. Garrincha, não se mostrando muito interessado, a certa altura pergunta: “Tá legal, ‘seu’ Feola… mas o senhor já combinou isso tudo com os russos?”. A frase espelha a genialidade de Garrincha expressa de forma simples e humilde. Não existe jogo de futebol previsível e nenhuma tática é garantidamente vencedora contra um time que reage.
É bem provável que a indústria automobilística e a do mundo digital estejam planejando marcar um gol de placa com os carros conectados, mas eles ainda não combinaram isso conosco — os consumidores.

No final das contas, o lucro destas grandes empresas de internet sai do bolso de milhões de consumidores por um caminho muitas vezes extenso e tortuoso, e a indústria automobilística quer levar a maior parte do bolo do lucro obtido através dos painéis dos automóveis. Abrir o painel dos carros para a integração com a internet é uma visão de que uma nova frente de lucros irá se abrir, porém isso pode ser um pensamento enganoso.
A indústria eletroeletrônica descobriu uma mina de ouro ao lançar os smartphones. O mesmo pareceu acontecer em princípio com os tablets. Porém, por uma série de motivos, os tablets tiveram uma fase que se pareceu mais com fogo de palha: ascensão rápida e agora rápida queda. A terceira tentativa, a das smartTVs, conectadas à internet, foram um enorme fracasso.
Como vimos, nem a indústria sabe direito que tipo de aplicativos serão importantes no painel do carro, já que ele não pode ser uma fonte de distração para o motorista, e pior ainda se a distração for uma propaganda. Hoje há uma ênfase pelo comando por voz, mas ele é limitado. Não é fácil fazer por voz o que se faz com dois cliques de mouse no espaço de uma tela. Portanto é muito difícil prever o que será seguro por um lado e ao mesmo tempo atraente para o motorista, por outro. Lançar estes sistemas às pressas, sem prestar atenção a estes detalhes, pode induzir acidentes por um lado ou a total insatisfação do motorista com o sistema, por outro. Sem um bom planejamento, essa tentativa pode ser fatal para o carro conectado.
A valiosa informação que o motorista gera no painel do carro pode ser lucrativa para Google, Apple, Microsoft ou Yahoo, porém será difícil de monetizar pelos fabricantes de carros. Mais fácil para os fabricantes seria a monetização pelo consumo pelo painel, mas como a disputa pelo bolso do motorista é acirrada em outras frentes, as iniciativas embarcadas irão competir com outras já estabelecidas.
Pode então ser que o painel dos automóveis não seja a cornucópia de lucros que os fabricantes imaginam.
Na próxima parte, alguns segredos de bastidores
AAD






